Editora: Companhia de Bolso
ISBN: 978-85-3591-030
Tradução: Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioratti
Opinião: ★★★☆☆
Link para compra: Clique aqui
Páginas: 466
Sinopse: Ver Parte I
“Podemos, assim, compreender por que Marx se mostra tão excitado e
entusiasmado com a burguesia e o mundo por ela criado. Devemos agora enfrentar
algo ainda mais desconcertante: comparado ao Manifesto
Comunista, todo o corpo da apologética capitalista, de Adam Ferguson a
Milton Friedman, é notavelmente pálido e sem vida. Os celebrantes do
capitalismo falam-nos surpreendentemente pouco de seus infinitos horizontes, de
sua audácia e energia revolucionárias, sua criatividade dinâmica, seu espírito
de aventura, sua capacidade não apenas de dar mais conforto aos homens, mas de
torná-los mais vivos. A burguesia e seus ideólogos jamais se notabilizaram por
humildade ou modéstia; no entanto, parecem estranhamente empenhados em esconder
muito de sua própria luz sob um punhado de argumentos irrelevantes. A razão,
suponho, é que existe um lado escuro dessa luz que eles não são capazes de
suprimir. Eles têm uma vaga consciência desse fato, todavia se sentem
profundamente constrangidos e amedrontados por isso, a ponto de preferirem
ignorar ou negar sua própria força e criatividade a olhar de frente suas
virtudes e conviver com elas.
O que é
que os membros da burguesia têm medo de reconhecer em si próprios? Não seu
impulso em explorar pessoas, tratando-as simplesmente como meios ou (em termos
mais econômicos do que morais) mercadorias. A burguesia, como Marx o sabe, não
perde o sono por isso. Antes de mais nada, os burgueses agem dessa forma uns
com os outros, e até consigo mesmos: por que não haveriam de agir assim com
qualquer um? A verdadeira fonte do problema é que a burguesia proclama ser o
“Partido da Ordem” na política e na cultura modernas. O imenso volume de
dinheiro e energia investido em construir e o autoassumido caráter monumental
de muito dessa construção — de fato, em todo o século de Marx, cada mesa e
cadeira num interior burguês se assemelhava a um monumento — testemunham a
sinceridade e seriedade dessa proclamação. Não obstante, a verdade é que, como
Marx o vê, tudo o que a sociedade burguesa constrói é construído para ser posto
abaixo. “Tudo que é sólido” — das roupas sobre nossos corpos aos teares e
fábricas que as tecem, aos homens e mulheres que operam as máquinas, às casas e
aos bairros onde vivem os trabalhadores, às firmas e corporações que os
exploram, às vilas e cidades, regiões inteiras e até mesmo as nações que as
envolvem — tudo isso é feito para ser desfeito amanhã, despedaçado ou esfarrapado,
pulverizado ou dissolvido, a fim de que possa ser reciclado ou substituído na
semana seguinte e todo o processo possa seguir adiante, sempre adiante, talvez
para sempre, sob formas cada vez mais lucrativas.
O pathos de todos os monumentos burgueses
é que sua força e solidez material na verdade não contam para nada e carecem de
qualquer peso em si;11 é que eles se desmantelam como frágeis caniços,
sacrificados pelas próprias forças do capitalismo que celebram. Ainda as mais
belas e impressionantes construções burguesas e suas obras públicas são
descartáveis, capitalizadas para rápida depreciação e planejadas para se
tornarem obsoletas; assim, estão mais próximas, em sua função social, de tendas
e acampamentos que das “pirâmides egípcias, dos aquedutos romanos, das
catedrais góticas”.12
Se
atentarmos para as sóbrias cenas criadas pelos membros da nossa burguesia,
veremos o modo como eles realmente trabalham e atuam, veremos como esses
sólidos cidadãos fariam o mundo em frangalhos, se isso pagasse bem. Assim como
assustam a todos com fantasias a respeito da voracidade e desejo de vingança do
proletariado, eles próprios, através de seus inesgotáveis empreendimentos,
deslocam massas humanas, bens materiais e dinheiro para cima e para baixo pela
Terra, e corroem e explodem os fundamentos da vida de todos em seu caminho. Seu
segredo — que eles tentam esconder de si mesmos — é que, sob suas fachadas,
constituem a classe dominante mais violentamente destruidora de toda a
história. Todos os anárquicos, desmedidos e explosivos impulsos que a geração
seguinte batizará com o nome niilismo —
impulsos que Nietzsche e seus seguidores irão imputar a traumas cósmicos como a
Morte de Deus —, Marx localiza na atividade cotidiana, aparentemente banal, da
economia de mercado. Marx desmascara os burgueses modernos como consumados
niilistas, em escala muito mais vasta do que os modernos intelectuais podem
conceber.13 Mas esses burgueses alienaram-se de sua própria criatividade, pois não
suportam olhar de frente o abismo moral, social e psíquico gerado por essa
mesma criatividade.
Algumas
das mais vívidas e tocantes imagens de Marx nos forçam ao confronto com esse
abismo. Assim, “a moderna sociedade burguesa, uma sociedade que liberou tão
formidáveis meios de produção e troca, é como a feiticeira incapaz de controlar
os poderes ocultos desencadeados por seu feitiço” (p. 478). Essa imagem evoca
os espíritos daquele sombrio passado medieval que nossa moderna burguesia em
princípio teria enterrado. Seus membros se apresentam como homens objetivos e
materiais, não como mágicos; como herdeiros do Iluminismo, e não das trevas.
Quando acusa os burgueses de feiticeiros — lembre-se também seu empreendimento
que “expulsou populações inteiras de seu habitat”,
para não mencionar “o espectro do comunismo” —, Marx está na verdade apontando
para as profundidades negadas por eles. A imagética de Marx, aqui como sempre,
projeta uma aura de maravilhoso sobre o mundo moderno: seus poderes vitais são
fascinantes e arrebatadores, além de tudo o que a burguesia possa ter imaginado
e muito menos calculado ou planejado. Mas as imagens de Marx expressam também
aquilo que sempre deve acompanhar todo genuíno sentido de maravilhoso: o
sentido de terror. Pois esse mundo miraculoso e mágico é ainda demoníaco e
aterrorizador, a girar desenfreado e fora de controle, a ameaçar e a destruir,
cegamente, à medida que se move. Os membros da burguesia reprimem tanto a
maravilha quanto o terror daquilo que fizeram: os possessos não desejam saber
quão profundamente estão possuídos. Conhecem apenas alguns momentos de ruína
pessoal e geral — apenas, ou seja, quando já é tarde demais.”
11 No primeiro capítulo de O capital,
Marx não se cansa de reiterar que “o valor das mercadorias é exatamente o
oposto da materialidade grosseira de sua composição; nenhum átomo de
materialidade entra na composição de seu valor”. Cf. MER, pp. 305,
312-4, 317, 328, 343.
12 Engels, poucos anos antes do Manifesto,
em A situação da classe trabalhadora na Inglaterra em 1844,
escandalizou-se ao descobrir que as casas dos trabalhadores, erigidas por
especuladores em busca de lucros rápidos, eram construídas para durar apenas
quarenta anos. Ele estava longe de suspeitar que isso viria a se tornar o
padrão de construção na sociedade burguesa. Ironicamente, até as mais
esplêndidas mansões dos mais ricos capitalistas durariam menos de quarenta anos
— não apenas em Manchester mas virtualmente em toda cidade capitalista —,
alugadas ou vendidas para empresários que as poriam abaixo, movidos pelos
mesmos impulsos insaciáveis que os tinham levado a erguê-las. (A Quinta
Avenida, em Nova York, é um bom exemplo, mas isso pode ser observado em
qualquer parte.) Levando em conta a rapidez e a brutalidade do desenvolvimento
capitalista, a verdadeira surpresa não está no quanto de nossa herança
arquitetônica foi destruído, mas no fato de que alguma coisa chegou a ser
preservada.
Apenas há pouco tempo pensadores marxistas
começaram a explorar esse tema. O especialista em geografia econômica David
Harvey, por exemplo, procura mostrar em detalhes como a contínua e intencional
destruição dos “espaços construídos” é inerente à acumulação de capital. Os
escritos de Harvey são amplamente conhecidos; para uma lúcida introdução e
análise, ver “Dez anos da nova sociologia urbana”, de Sharon Zukin (in Theory
and Society, jul. 1980, pp. 575-601).
Ironicamente, os Estados comunistas fizeram
bem mais que os capitalistas no tocante à preservação da substância do passado
nas suas grandes cidades: Leningrado, Praga, Varsóvia, Budapeste etc. Mas essa
política decorre menos do respeito pela beleza e a realização humana que do
desejo de governos autocráticos de mobilizar lealdades tradicionais, criando um
fio de continuidade com as autocracias do passado.
“Ainda
que os trabalhadores de fato construam um bem-sucedido movimento comunista e ainda que esse movimento gere uma
bem-sucedida revolução, de que maneira, em meio às vagas impetuosas da vida
moderna, poderão eles erguer uma sólida sociedade
comunista? O que poderá impedir que as forças sociais que derretem o
capitalismo derretam igualmente o comunismo? Se todas as novas relações sociais
se tornam obsoletas antes que se ossifiquem, o que poderá manter vivos o apoio
mútuo, a solidariedade e a fraternidade? Um governo comunista deverá tentar
conter a inundação impondo restrições radicais não apenas a qualquer atividade
e empresa econômica (todos os governos socialistas fizeram isso, como todos os
Estados capitalistas), mas às manifestações pessoais, culturais e políticas.
Contudo, na medida em que fosse bem-sucedida, essa estratégia não estaria
traindo o objetivo marxista de livre desenvolvimento para cada um e para todos?
Marx vislumbrou o comunismo como o coroamento da modernidade; porém, como pode
o comunismo inserir-se no mundo moderno sem suprimir aquelas energias verdadeiramente
modernas que ele promete liberar? Por outro lado, se o comunismo der livre
curso a essas energias, seu fluxo espontâneo não levará de roldão a nova
formação social?14”
14 Os valores, temas críticos e
paradoxais desse parágrafo, são desenvolvidos brilhantemente na tradição
dissidente (do Leste europeu) do humanismo marxista, que vai de pensadores como
Kolakowski em sua fase pós-stalinista (e pré-oxoniano) e pensadores da
“Primavera de Praga”, nos anos 1960, a George Konrad e Alexander Zinoviev, nos
anos 1970. As variantes russas na discussão desse tema serão discutidas no cap.
IV.
“Para
Marx, que se situa após as revoluções e reações burguesas e que olha adiante na
direção de novos eventos, os símbolos da nudez e do desvelamento recuperam a profundidade
dialética que conheceram em Shakespeare, dois séculos antes. As revoluções
burguesas, arrancando fora os véus “da ilusão religiosa e política”, haviam
deixado a exploração e o poder desnudos, a crueldade e a miséria expostas como
feridas abertas, mas ao mesmo tempo tinham descoberto e exposto novas opções e
esperanças. Ao contrário da gente comum de todas as épocas, que havia sido
interminavelmente traída e explorada por sua devoção aos “superiores naturais”,
os homens modernos, lavados na “água gelada do cálculo egoísta”, estão livres
da deferência aos senhores que os destroem, mais animados do que entorpecidos
pelo frio. Como agora eles sabem pensar por e para si mesmos, exigirão contas
do que seus chefes e dirigentes fazem por eles — e fazem a eles — e estarão
prontos a resistir e a se rebelar toda vez que não estiverem recebendo nada
valioso em troca.
A
esperança de Marx é que, tão logo sejam “forçados a enfrentar […] suas
verdadeiras condições de vida e suas relações com outros companheiros”, os
homens desacomodados das classes operárias se unirão para combater o frio que
enregela a todos. Essa união gerará a energia coletiva capaz de alimentar uma
nova vida comunitária. Um dos objetivos primordiais do Manifesto
é apontar o caminho para escapar do frio, para nutrir e manter unida a
aspiração de todos pelo calor comum. Como só podem superar a aflição e o medo
pelo contato com os mais íntimos recursos individuais, os trabalhadores lutarão
pelo reconhecimento coletivo da beleza e o valor do indivíduo. O comunismo,
quando chegar, será uma espécie de manto transparente, que ao mesmo tempo
manterá aquecidos os que o vestem e deixará à mostra sua beleza desnuda, de
modo que eles possam reconhecer-se e aos demais em seu pleno esplendor.
Nesse
ponto, como acontece com frequência em Marx, a visão é deslumbrante, mas a luz
bruxuleia se olhamos mais de perto. Não é difícil imaginar outras alternativas
para a dialética da nudez, finais menos belos que o de Marx porém não menos
plausíveis. Os homens modernos talvez prefiram o solitário pathos e a grandiosidade do rousseauniano indivíduo liberado, ou o
conforto coletivo e bem-vestido da máscara política de Burke, à tentativa
marxista de fundir o melhor de ambos. Com efeito, a espécie de individualismo
que despreza e teme contatos com outras pessoas como ameaças à integridade
interior e a espécie de coletivismo que busca submergir o eu num papel social
podem ser mais atraentes que a síntese marxista, pois são intelectual e
emocionalmente mais acessíveis.
Resta
ainda outro problema, capaz de fazer que a dialética marxista não se ponha
sequer em marcha. Marx acredita que os choques, sublevações e catástrofes da
vida na sociedade burguesa habilitam os modernos — agindo através deles, como
ocorre com Lear — a descobrir o que eles “realmente são”. Mas, se a sociedade
burguesa é volátil, como Marx pensa que é, como poderão as pessoas se fixar em
qualquer espécie de individualidade “real”? Em meio a todas as possibilidades e
necessidades que bombardeiam o indivíduo e todos os desencontrados movimentos
que o impelem, como poderá alguém definir de forma cabal quem é essencial e
quem é acidental? A natureza do novo homem moderno, desnudo, talvez se mostre
tão vaga e misteriosa quanto a do velho homem, o homem vestido, talvez ainda
mais vaga, pois não haverá mais ilusões quanto a uma verdadeira identidade sob
as máscaras. Assim, juntamente com a comunidade e a sociedade, a própria
individualidade pode estar desmanchando no ar moderno.”
“A crítica, como Marx a compreendeu, é parte de um incessante processo
dialético. Foi concebida para ser dinâmica, para mover e inspirar a pessoa
criticada a ultrapassar tanto as críticas como a si própria, para impelir ambos
os polos na direção de uma nova síntese. Portanto, desmascarar falsas
proclamações de transcendência é exigir e lutar por verdadeira transcendência.
Desistir da transcendência seria vestir um halo em torno da própria estagnação
e resignação e trair não apenas a Marx mas a nós mesmos. Temos de lutar pelo
equilíbrio precário, dinâmico, que Antonio Gramsci, um dos maiores pensadores e
líderes comunistas do nosso século, descreveu como “pessimismo do intelecto,
otimismo da vontade”. 26”
26 Retirado do manuscrito póstumo de Gramsci,
“The modern prince”. Republ. em Prison
notebooks, sel., org. e trad. Quintin Hoarse e Geoffrey Nowell Smith
(International Publishers, 1971), p. 173.
“Além desses ataques polêmicos, o modernismo sempre omitiu objeções de
espécies muito diversas. No Manifesto,
Marx toma de Goethe
a ideia de uma emergente “literatura mundial” para mostrar como a moderna
sociedade burguesa estava trazendo à luz uma cultura mundial:
Em lugar das velhas carências, satisfeitas pela
produção interna, enfrentamos agora novas carências que exigem, para sua
satisfação, produtos de terras e climas distantes. Em lugar da velha
autossuficiência local e nacional, deparamos, em todas as direções, com a
interdependência universal. Tanto na produção material como na espiritual
(geistige). As criações espirituais de nações individualizadas se tornam
propriedade comum. O bitolamento e a unilateralidade das nações se tornam cada
vez mais impossíveis, e das várias literaturas nacionais e locais brota uma
literatura mundial. (pp. 476-7)
O
cenário descrito por Marx serve perfeitamente de programa para o modernismo
internacional que floresceu de seu tempo até o nosso: uma cultura que é
antibitolada e multilateral, que expressa o escopo universal dos desejos
modernos e que, a despeito da mediação da economia burguesa, é “propriedade
comum” de toda a humanidade. Mas e se essa cultura não for exatamente
universal, como Marx pensou que seria? E se ela afinal se revelar um
empreendimento exclusiva e provincianamente ocidental? Essa possibilidade foi
proposta pela primeira vez, na metade do século XIX, pelos populistas russos.
Seu argumento era que a explosiva atmosfera de modernização no Ocidente — a
falência das comunidades e o isolamento psíquico do indivíduo, o empobrecimento
das massas e a polarização de classes, uma criatividade cultural desencadeada
pelo desespero moral e a anarquia espiritual — talvez fosse mais uma
peculiaridade cultural que uma necessidade imperiosa destinada de maneira
inexorável à humanidade como um todo. Por que outras nações e civilizações não
poderiam buscar sínteses mais harmoniosas entre os meios de vida tradicionais e
as potencialidades e necessidades modernas? Numa palavra — esta crença foi
expressa às vezes como dogma, às vezes como esperança desesperada —, seria
apenas no Ocidente que “tudo que é sólido desmancha no ar”.
O século
XX assistiu a uma variedade de tentativas de realizar os sonhos populistas do
século XIX à medida que regimes revolucionários chegaram ao poder em todo o
mundo subdesenvolvido. Todos esses regimes tentaram, de diferentes maneiras,
atingir aquilo que os russos do século XIX chamaram de salto do feudalismo para
o socialismo: em outras palavras, atingir através de um esforço heroico as
realizações da comunidade moderna, sem se deixar contaminar pelas profundidades
da fragmentação e desunião modernas. Este não é o lugar para discorrer sobre as
diversas modalidades de modernização disponíveis no mundo contemporâneo. Mas é
relevante assinalar que, a despeito das enormes diferenças entre os sistemas
políticos, hoje, muitos deles parecem partilhar um forte desejo de banir de
seus respectivos mapas a cultura moderna. Sua esperança é que, se for possível
proteger o povo dessa cultura, este poderá ser mobilizado numa sólida frente a
perseguir objetivos nacionais comuns, em vez de se dispersar numa multidão de
direções no encalço de voláteis e incontroláveis objetivos individuais.”
“As mais vívidas imagens antipastorais da modernidade, criadas por Baudelaire,
pertencem ao fim dos anos 1850, o mesmo período de “O pintor da vida moderna”:
se existe contradição entre as duas visões, Baudelaire não tem, de modo algum,
consciência disso. O tema antipastoral emerge pela primeira vez no ensaio de
1855, “Sobre a moderna ideia de progresso aplicada às belas-artes”.12 Aqui Baudelaire se serve de uma familiar
retórica reacionária para lançar desdém não só sobre a moderna ideia de
progresso, mas sobre o pensamento e a vida modernos como um todo:
Existe ainda outro erro muito atraente, que eu
anseio por evitar, como ao próprio demônio. Refiro-me à ideia de “progresso”.
Esse obscuro sinaleiro, invenção da filosofância hodierna, promulgada sem a
garantia da Natureza ou de Deus — esse farol moderno lança uma esteira de caos
em todos os objetos do conhecimento; a liberdade se dispersa e some, o castigo
(châtiment) desaparece. Quem quer que pretenda ver a história com clareza deve
antes de mais nada desfazer-se dessa luz traiçoeira. Essa ideia grotesca, que
floresceu no solo da fatuidade moderna, desobrigou cada homem dos seus deveres,
desobrigou a alma de sua responsabilidade, desatrelou a vontade de todas as
cauções impostas a ela pelo amor à beleza. […] Tal obsessão é sintoma de uma já
bem visível decadência.
Beleza,
aqui, aparece como algo estático, imutável, inteiramente externo ao indivíduo,
a exigir rígida obediência e a impor castigos sobre seus recalcitrantes súditos
modernos, extinguindo todas as formas de Iluminismo, funcionando como uma
espécie de polícia espiritual a serviço de uma Igreja e um Estado
contrarrevolucionários.
Baudelaire
recorre a esse expediente reacionário porque está preocupado com a crescente
“confusão entre ordem material e ordem espiritual”, disseminada pela epopeia do
progresso. Assim,
tome-se qualquer bom francês, que lê o seu jornal,
no seu café, pergunte-se a ele o que entende por progresso, e ele responderá
que é o vapor, a eletricidade e a luz do gás, milagres desconhecidos dos
romanos, testemunho incontestável de nossa superioridade sobre os antigos. Tal
é o grau de escuridão que se instalou nesse cérebro infeliz!
Baudelaire
tem toda a razão em lutar contra a confusão entre progresso material e
progresso espiritual — uma confusão que persiste em nosso século e se torna
especialmente exuberante em períodos de boom
econômico. Mas ele se mostra tão estúpido quanto aquele espantalho no café
quando salta para o polo oposto e define a arte de modo que esta pareça não ter
qualquer conexão com o mundo material:
O pobre homem tornou-se tão americanizado pelas
filosofias zoocráticas e industriais que perdeu toda a noção da diferença entre
os fenômenos do mundo físico e os do mundo moral, entre o natural e o
sobrenatural.
Esse
dualismo tem alguma semelhança com a dissociação kantiana entre âmbito numênico
e o fenomênico, porém vai muito mais longe do que Kant, para quem as experiências
e atividades numênicas — arte, religião, ética — ainda operam no mundo material
do tempo e do espaço. Não fica nada claro onde, ou sobre o quê, esse artista
baudelairiano deverá operar. Baudelaire vai além: ele não apenas desvincula seu
artista do mundo material do vapor, da eletricidade e do gás, mas também de
toda a história da arte, passada e futura. Com isso, diz ele, é errado até
mesmo pensar em predecessores do artista, ou em virtuais influências que tenha
sofrido. “Todo florescimento [em arte] é espontâneo, individual. […] O artista
nasce apenas de si mesmo. […] A única segurança que ele estabelece é para si
mesmo. Ele morre sem deixar filhos, tendo sido seu próprio rei, seu próprio
sacerdote, seu próprio Deus.”13
Baudelaire mergulha em uma transcendência que deixa Kant
muito para trás: esse artista se torna um Ding-an-sich
[objeto-em-si] ambulante. Assim, na mercurial e paradoxal sensibilidade de
Baudelaire, a imagem antipastoral do mundo moderno gera uma visão notavelmente
pastoral do artista moderno, que, intocado, flutua, livre, acima disso tudo.
O
dualismo pela primeira vez esboçado aqui — visão antipastoral do mundo moderno,
visão pastoral do artista moderno e sua arte — se amplia e aprofunda no seu
famoso ensaio de 1859, “O público moderno e a fotografia”.14
Baudelaire começa por se queixar de que “o gosto exclusivo do Verdadeiro (nobre
aptidão, quando aplicada a seus fins próprios) oprime o gosto do Belo”. Esta é
a retórica do equilíbrio, que resiste às ênfases exclusivas: a verdade é
essencial, desde que não asfixie o desejo de beleza. Todavia, o senso de
equilíbrio não dura muito: “Onde não se devia ver nada além de Beleza (no
sentido de uma bela pintura), o público procura apenas a Verdade”. Como a
fotografia é capaz de reproduzir a realidade com mais precisão do que nunca —
para mostrar a “Verdade” —, esse novo meio é “o inimigo mortal da arte”, e, na
medida em que o desenvolvimento da fotografia é produto do progresso
tecnológico, “Poesia e progresso são como dois homens ambiciosos que se odeiam.
Quando seus caminhos se cruzam, um deles deve dar passagem ao outro”.
Mas por
que inimigo mortal? Por que a presença da realidade, ou “verdade”, em uma obra
de arte deveria minar ou destruir sua beleza? A resposta imediata, na qual
Baudelaire acredita com tanta veemência (ao menos nessa altura) que nem sequer
ousa expressá-la com clareza, é que a realidade moderna é intrinsecamente
repugnante, vazia não só de beleza mas de qualquer potencial de beleza. Um
desrespeito categórico, quase histérico, pelos homens modernos e suas vidas
anima declarações como estas: “A multidão idólatra exige um ideal que lhe seja apropriado
e compatível com o valor de sua natureza”. A partir do momento em que a
fotografia se desenvolveu, “nossa sociedade esquálida, narcisista, correu para
admirar sua imagem vulgar em uma lâmina de metal”. A consistente discussão
crítica sobre a representação da realidade, levada a efeito por Baudelaire, se
vê comprometida por um desprezo acrítico pelas reais pessoas modernas em seu
redor. Isso o conduz novamente a uma concepção pastoral da arte: “é inútil e
tedioso representar o que existe, porque nada do que existe me satisfaz. […]
Àquilo que é positivamente trivial, prefiro os monstros da minha fantasia”.
Ainda piores que os fotógrafos, diz Baudelaire, são os modernos pintores
influenciados pela fotografia: cada vez mais, o pintor moderno “é dado a pintar
não o que ele sonha, mas o que vê”. O que dá a isso um teor pastoral, e
acrítico, é o dualismo radical, é a profunda inconsciência de que pode haver
relações ricas e complexas, plenas de influências mútuas e fusões, entre o que
um artista (ou quem quer que seja) sonha e vê.”
12 Art in Paris, pp. 121-9. Este ensaio aparece
como parte introdutória de uma extensa discussão crítica da Exposition
Universelle (Paris, 1855).
13 Ibid., pp. 125, 127.
14 Salon
of 1859, parte II. Art in Paris, pp. 149-55.
“Na
última geração, entretanto, historiadores vieram a entender a história das
revoluções, começando com a Revolução Francesa de 1789, de baixo, como uma
história das multidões revolucionárias: grupos de pessoas anônimas e comuns,
pessoas cheias de fraquezas e vulnerabilidades, dilaceradas pelo medo, dúvida e
ambivalência, mas prontas a sair às ruas nos momentos culminantes e a arriscar
o pescoço para lutar por seus direitos.”

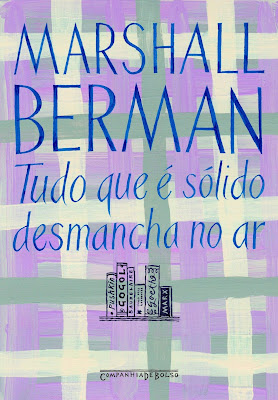
Nenhum comentário:
Postar um comentário