Editora: Estampa
ISBN: 978-85-7559-548-0
Tradução: José
Saramago
Opinião: ★★★★★
Análise em vídeo: Clique aqui
Páginas: 316
Sinopse: Nesta
obra, Georges Duby “fala” de uma certa Idade Média, a das obras-primas. O seu
esforço de explicação incide “aqui por força, nas formas de arte que foram
criadas na proximidade do poder e no universo estreito da alta cultura”. Foram
essas obras praticamente as únicas que chegaram até nós.
Uma vez que “a criação artística é sempre governada pelas
forças sociais dominantes”, o autor focaliza a sua atenção em “O mosteiro
(980-1130)”, “A catedral (1130-1280)”, “O palácio (1280-1420)”, espaços em que
a invenção foi modelada para “a glória de Deus”, e abrigo terreno de seus
representantes, para “o serviço dos príncipes” e “o prazer dos ricos”.
“Uma vez que a criação artística é sempre
governada pelas forças sociais dominantes, a invenção situa-se quase por
inteiro entre o que foi modelado para a glória de Deus, para o serviço dos príncipes
e para o prazer dos ricos.”
“Pouquíssimos homens — solidões que para o
ocidente, para o norte, para o leste se estendem, se tornam imensas e acabam
por cobrir tudo - maninhos, brejos, rios vagabundos, e as charnecas, as matas
de corte, os pastos, todas as formas degradadas da floresta que os fogos das
brenhas e as semeaduras furtivas dos queimadores de bosques deixam atrás de si —
aqui e além clareiras, um solo conquistado desta vez, mas apenas meio domado;
sulcos ligeiros, irrisórios, traçados numa terra indócil por alfaias de madeira
arrastadas por magros bois; neste espaço nutriente de grandes manchas ainda
vazias, todos os campos que são deixados de pousio um ano, dois anos, três
anos, por vezes dez anos, para que, naturalmente, em repouso, se reconstituam
os princípios da sua fertilidade — choças de pedra, de lama ou de ramos,
reunidas em lugarejos rodeados por sebes espinhosas e pelo cercado dos quintais
— por vezes, no seio das paliçadas que a protegem, a morada dum chefe, um
coberto de madeira para o mercado, celeiros, os barracões dos escravos e a
fornalha das cozinhas, afastada — de longe em longe, uma cidade, mas que é
apenas, penetrado pela natureza rural, o esqueleto embranquecido duma cidade
romana, bairros de ruínas que as charruas contornam, uma cerca nem bem nem mal
reparada, edifícios de pedra que datam do Império, convertidos em igrejas ou em
cidadelas; perto deles, algumas dezenas de cabanas onde vivem vinhateiros,
tecelões, ferreiros, os artesãos domésticos que fabricam, para a guarnição e
para o senhor bispo, adornos e armas; duas ou três famílias de judeus enfim que
emprestam algum dinheiro sobre penhores — pistas, as longas filas das corveias
de transporte, flotilhas de barcas em todos os cursos de água: tal é o Ocidente
do ano mil. Rústico, aparece, diante de Bizâncio, diante de Córdova, pobríssimo
e desamparado. Um mundo selvagem. Um mundo cercado pela fome.
Tão dispersa, ainda assim a população é
demasiado numerosa. Luta com as mãos quase nuas contra uma natureza indócil
cujas leis a sujeitam, contra uma terra infecunda porque mal dominada. Nenhum
camponês, quando semeia um grão de trigo, conta colher muito mais de três
grãos, se o ano não for mau de mais — o suficiente para comer pão até à Páscoa.
Depois terá de contentar-se com ervas, com raízes, alimentos de ocasião
arrancados à floresta e às margens dos rios. Com a barriga vazia, nos grandes
trabalhos do Verão, os labregos ressecam de fadiga à espera da colheita. Quando
o tempo não é favorável — o mais frequente —, o grão falta ainda mais cedo e os
bispos tem de levantar as proibições, quebrar a ordem dos ritos, permitir que
se coma carne na Quaresma. Por vezes, quando chuvas excessivas empaparam a
terra e prejudicaram as lavras do Outono, quando as tempestades derrubaram e destruíram
as searas, as carências habituais dão lugar às fomes, às grandes penúrias
mortais. Todos os cronistas desse tempo as descreveram e não sem complacência.
“As gentes perseguiam-se umas às outras para se devorarem, e muitos degolavam
os seus semelhantes para se alimentarem de carne humana, à maneira dos lobos”.
Exageravam eles quando evocavam os cadáveres
amontoados nos ossários, os bandos de famintos que comem terra e vão por vezes
desenterrar os mortos? Esses escritores eram todos homens de Igreja. Se com
tanto cuidado narraram essas misérias, ou as doenças endêmicas que dizimavam
lentamente um povo frágil e desferiam por vezes em surtos de mortalidade
agressões mais vivas, foi porque, para eles, tais calamidades manifestavam ao
mesmo tempo a miséria do homem e o peso de Deus. Comer segundo a vontade todo o
ano parecia então um privilégio exorbitante, o de alguns nobres, de alguns
padres, de alguns monges. Todos os outros eram escravos da fome. Sentiam-na
como caráter específico da condição humana. O homem, pensavam eles, sofre
naturalmente. Sente-se nu, privado de tudo, entregue à morte, ao mal, aos
terrores. Porque é pecador. Desde a queda de Adão que a fome o atormenta, e
ninguém, tal como do pecado original, se poderá dizer liberto dela. Este mundo
tinha medo e em primeiro lugar das suas próprias fraquezas.
Entretanto, já desde há algum tempo,
movimentos insensíveis puxavam pouco a pouco esta humanidade miserável para
fora da sua total indigência. O século XI, para os povos da Europa Ocidental,
foi o momento duma lenta emersão fora da barbárie. Libertaram-se então das
fomes, entraram um após outro na história, empenharam-se num progresso
contínuo. Despertar, infância. Com efeito, esta região do mundo — e esse iria
ser, sobre todas as outras, o seu mais insigne privilégio e penhor do seu
progressivo ascendente — deixava nessa mesma época, e para sempre, de ser presa
das invasões. Desde séculos, um grande tumulto de povos em marcha desabara
quase constantemente sobre o Ocidente, perturbando a ordem das coisas,
derrubando, arruinando, destruindo. As conquistas carolíngias tinham conseguido
durante algum tempo restaurar uma aparência de disciplina e paz na Europa
continental: mas, mal Carlos Magno desapareceu, bandos velozes voltaram de
todos os lados, desde a Escandinávia, das estepes de Leste e das ilhas
mediterrânicas de que o Islã se apoderara, a abater-se sobre a cristandade
latina para a pilhar. Ora, as germinações iniciais daquilo a que chamamos arte
românica distinguem-se no preciso instante em que tais incursões se detêm, em
que os Normandos se fixam e pacificam, em que o rei da Hungria se converte, em
que o conde de Arles expulsa dos seus covis os piratas sarracenos que dominavam
as passagens dos Alpes e vinham roubar o abade de Cluny. Depois de 980, não
mais se viram abadias saqueadas e, fugindo pelos caminhos com as relíquias e o
tesouro, rebanhos de monges assus1ados. Agora, quando subiam incêndios no
horizonte dos bosques, eram os incêndios dos arroteamentos e não das pilhagens.
Um progresso muito obscuro das técnicas
agrícolas parece ter começado a propagar-se, na noite do século X, a partir dos
grandes domínios monásticos. Pôde livremente prosseguir. O seu desenvolvimento
apetrecha pouco a pouco os camponeses com instrumentos mais eficazes, melhores
charruas, melhores atrelagens, relhas de ferro capazes de virar a terra, de
melhor a fertilizar, de atacar os solos pesados até então em baldio e portanto
de alargar os campos permanentes à custa das brenhas, de ampliar as clareiras e
abrir outras, de estimular por toda a parte a fecundidade agrária e de tornar
mais pesadas as gabelas dos ceifeiros. Este crescimento rural não deixou sinais
diretos nos documentos da história, mas adivinha-se o seu curso em mil
indícios, e é sobre ele que assentam todos os progressos culturais do século
XI. A fome de 1033, cujo relato se lê nas Histórias
do monge clunisino Raul Glaber, foi uma das últimas. Precisamente nessa época,
as vagas de fome perderam a sua amplitude. Espaçaram-se. Em campos que
insensivelmente se apetrechavam, houve lugar para mais homens, menos
vulneráveis à epidemia. No seio das misérias do ano mil, há que situar as
tensões dum crescimento juvenil que arremete para a frente e que, durante três
longos séculos, sustentou a ascensão da Europa. Como escreve na sua crônica o
bispo Thietmar de Merseburgo, chegado “o milésimo ano do parto do Cristo
Salvador pela Virgem sem pecado, viu-se brilhar sobre o mundo uma manhã
radiosa”.
Esta alvorada, para falar francamente,
levantava-se para um punhado de homens. Todos os outros continuaram, por muito
tempo, afundados na noite, na miséria e na angústia. Quer fossem de condição
livre ou estivessem presos no que sobrevivia dos laços da escravidão, os
camponeses continuaram privados de tudo, menos famintos sem dúvida, mas
extenuados, desprovidos de qualquer esperança de sair um dia dos seus
chiqueiros, de se erguerem acima do seu estado, mesmo quando conseguiam juntar
peça a peça um montinho de dinheiro para depois de dez anos, vinte anos de
privações, comprarem um retalho de terra. Nesse tempo, o senhorio esmaga-os. É
ele que forma a armadura da sociedade. Esta, em função dos poderes de proteção
e exploração reconhecidos aos chefes, organiza-se como um edifício de múltiplos
andares separados por paredes estanques e que, no alto, um pequeno grupo de
gente poderosíssima domina. Algumas famílias, parentes ou amigas do rei e que
tudo possuem: o solo, as ilhotas cultivadas e as grandes solidões Que as
rodeiam, os ranchos de escravos, as rendas e as corveias dos cultivadores
estabelecidos como rendeiros nas suas terras, a capacidade de combater, o
direito de julgar, de punir, todos os postos de comando na Igreja e no século.
Nobres cobertos de joias e adornados de tecidos multicores percorrem com a sua
escolta de cavaleiros, esta terra selvagem. Apropriam-se dos poucos valores que
a pobreza dela contém. Apenas eles beneficiam do enriquecimento que o progresso
agrícola segrega lentamente. Só esta disposição muito hierarquizada das
relações sociais, os poderes dos senhores, a força da aristocracia, podem
explicar que o crescimento extremamente lento de estruturas materiais tão
primitivas tenha podido suscitar tão depressa os fenômenos de expansão que
vemos multiplicarem-se no último quartel do século XI, o despertar do comércio
de luxo, os arremetimentos de conquistas que lançam aos quatro cantos do mundo
os guerreiros do Ocidente, o renascimento, enfim, da alta cultura. Se a
autoridade total duma classe muito fechada de nobres e de homens de Igreja
tivesse caído menos pesadamente sobre as multidões de trabalhadores dominados,
as formas artísticas, cujo desenvolvimento este livro quer seguir, não teriam
podido nascer entre estes maninhos imensos e num povo tão rústico, tão brutal,
tão pobre ainda e tão grosseiro.”
“As semelhanças mais íntimas, as que
estabelecem as mais estreitas coerências entre as diversas criações da arte,
resultavam, acima de tudo, do destino único desta. Nessa época, aquilo a que
chamamos arte — a ou, pelo menos, aquilo que dela resta depois de mil anos por
ser a parte menos frágil, a mais solidamente edificada —não tinha outra função
que a de oferecer a Deus as riquezas do mundo visível, que permitir ao homem,
por meio desses dons, apaziguar a cólera do Todo-Poderoso e conciliar os seus
favores. Toda a grande arte era então sacrifício. Releva menos da estética que
da magia. E isto conduz aos mais profundos caracteres que definem o ato
artístico no Ocidente entre 980 e 1130. Durante estes cento e cinquenta anos, o
impulso de vitalidade que arrebatava para o progresso a cristandade latina
fornecia já os meios materiais de afeiçoar obras menos frustes e muito mais
amplas, sem que, no entanto, o desenvolvimento se achasse já suficientemente
avançado para que fosse desagregada a moldura das atitudes mentais e dos
comportamentos primitivos. Os cristãos do século XI continuavam a sentir-se
totalmente esmagados pelo mistério, dominados pelo mundo desconhecido que os
seus olhos não podiam entrever, mas cujo reino se estende vigoroso, admirável,
inquietante para lá das aparências. E o pensamento daqueles que se situavam nos
níveis mais altos da cultura movia-se no irracional. Continuava a ser investido
por fantasmas. Eis por que, neste ponto da história, no curto intervalo em que
o homem, sem estar liberto das suas angústias, dispôs de armas muito eficazes
para criar, nasceu a maior e talvez a única grande arte sacra da Europa.
Ora, uma vez que tinha função de sacrifício,
esta arte dependia inteiramente daqueles que na sociedade se encarregavam de
dialogar com as forças que regem a vida e a morte. Por tradição imemorial, esse
poder pertencia aos reis. Mas a Europa, nesse momento, tornava-se feudal, o que
significa que o poder de que dispunham os monarcas tendia a partilhar-se, a
dispersar-se por múltiplas mãos. Por isso, pouco a pouco, no novo mundo, o
governo da obra de arte fugia aos soberanos. Foram os monges que dele se
apropriaram, porque os movimentos da cultura faziam deles os mediadores
essenciais entre o homem e o sagrado. Desta transferência derivam a maior parte
dos traços de que se reveste então a arte do Ocidente.”
““Um só reina no reino dos céus, aquele que
lança o raio; é normal que só um igualmente, sob aquele, reine sobre a terra.”
A sociedade humana concebe-se no século XI como uma imagem, como um reflexo da
cidade de Deus, que é uma realeza. De fato, a Europa feudal não pôde dispensar
o monarca. Quando os bandos de cruzados que davam o espetáculo da pior
indisciplina fundaram na Terra Santa um Estado, espontaneamente fizeram dele um
reino. Modelo das perfeições terrestres, a figura real estabelece-se no ponto
mais alto de todas as construções mentais que pretendiam então significar a
ordenação do universo visível. Artur, Carlos Magno, Alexandre, David, todos os
heróis da cultura cavalheiresca foram reis, e era ao rei que todo o homem nesse
tempo, quer fosse padre, guerreiro e mesmo camponês, se esforçava por
assemelhar-se. Devemos ver na permanência do mito real um dos caracteres mais
marcantes da civilização medieval. Da realeza, das suas funções, dos seus
recursos, dependia em particular estreitamente o nascimento da obra de arte,
dessas obras maiores, ilustres, a que as outras fazem referência. Quem quiser
compreender as relações entre as estruturas sociais e a criação artística deve
portanto analisar atentamente sobre que se fundava e como se exercia nessa
época o poder monárquico.
A realeza vinha do passado germânico,
introduzida pelos povos que Roma, com vontade ou sem ela, acolhera em si sem
nada retirar aos poderes dos seus chefes. Estes tinham como principal função
conduzir a guerra. À frente dos homens armados, guiavam o seu avanço. Em cada
Primavera os jovens guerreiros juntavam-se em volta deles para a aventura
militar. Durante toda a Idade Média, a espada nua foi o primeiro dos emblemas
da soberania. Mas os reis bárbaros tinham um outro privilégio mais misterioso,
mais necessário ao bem comum, o poder mágico de serem intermediários entre o
seu povo e os deuses. Da intercessão deles dependia a felicidade de todos. Este
poder vinha-lhes da própria divindade, por filiação; o sangue divino corria nas
suas veias; por isso “o uso entre os Francos foi sempre, morto o seu rei,
escolher um outro na raça real”. A este título, presidiam ao rito, e os maiores
sacrifícios, eram oferecidos em seu nome.”
“A magistratura imperial era uma outra
instituição divina que se situava um pouco mais acima na hierarquia dos
poderes, no grau intermediário entre os reis da terra e as dominações celestes.
Perante Carlos Magno prosternara-se um papa. Sobre o túmulo de S. Pedro,
saudara-o com o nome de Augusto. Novo Constantino, novo David, o imperador do
Ocidente passou a ter como missão guiar para a sua salvação o conjunto da
cristandade latina. Mais do que os reis que se inclinavam diante deles, os
novos imperadores tiveram de comportar-se como heróis de Deus. Mas sabiam-se
também sucessores de César. Nos gestos de consagração que lhes, cabia cumprir e
que suscitavam a obra de arte, recordavam-se de seus predecessores, cujas
liberalidades tinham outrora adornado as cidades antigas. Quiseram pois que os
objetos que, por sua ordem, eram oferecidos a Deus, tivessem a marca duma certa
estética. A do Império — isto é, a de Roma. Os artistas que obedeciam às suas
vontades e às dos outros soberanos do Ocidente, procuraram assim mais deliberadamente
a inspiração nas obras da Antiguidade. Da renovação do Império procede muito
diretamente tudo o que liga no ano mil a arte do Ocidente à da Roma clássica.”
“A mola desta mutação não se encontra ao
nível da economia, cujo crescimento se desenvolvia de maneira muito lenta e não
provocava ainda qualquer modificação de importância. Coloca-se num fato
político: a progressiva impotência dos reis. Nas mãos dos grandes Carolíngios,
a unidade do poder pode parecer miraculosa. Como tinham conseguido estes chefes
de bandos manter sob o seu domínio efetivo o Estado desmedidamente alargado,
espesso, impenetrável, que era o Império no ano 800? Como tinham eles podido
reinar ao mesmo tempo sobre a Frísia e sobre o Friul, sobre as margens do Elba
e em Barcelona, ser verdadeiramente obedecidos por todas estas províncias, sem
estradas e sem cidades, onde o próprio cavalo era raro, onde os correios reais
iam a pê? A sua autoridade baseava-se na guerra permanente, num impulso
ininterrupto de conquistas. Os antepassados de Carlos Magno tinham saído da
Austrásia à frente duma pequena companhia de parentes, de amigos, de servidores
fiéis que os seguiam e lhes obedeciam porque eles venciam, porque distribuíam o
saque em cada campanha e os deixavam pilhar à vontade as regiões conquistadas.
Os Carolíngios tinham conseguido conservar na fidelidade estes companheiros dos
primeiros dias, os filhos e sobrinhos deles, ligando-os à sua pessoa por
casamentos, pelos laços do parentesco e da fé vassálica. Em cada Primavera, quando
a erva começava a crescer e era possível lançarem-se nas empresas, reuniam-se
em seu redor todos esses amigos, os condes, os bispos, os abades dos grandes
mosteiros. Nesse momento, para esta tropa reunida, abria-se a grande festa
anual de destruições, de matanças, de violações e de rapinas, e o rei, à frente
de camaradas risonhos, marchava de novo para as alegrias da guerra ofensiva.
Porém, já no século IX, no intervalo destas
aventuras sazonais, no Outono, quando cada um dos amigos do soberano voltava às
suas terras, encontrava os homens da sua linhagem, as suas concubinas, os seus
escravos e os seus protegidos, saía imediatamente da influência real.
Deixava de haver fiscalização: as estradas
estavam cortadas. Cada um dos grandes reinava então como déspota sobre as
clareiras vizinhas da sua morada. Dominava um campesinato subjugado que não
ignorava existir um rei, mas que reverenciava obscuramente sob este nome um
senhor distante, invisível como o próprio Deus. Para todos os rústicos, a paz e
a prosperidade dependiam do chefe local. Os pobres, em tempo de fome,
encontravam alguns punhados de grãos à porta dos seus celeiros. A quem
apresentar queixa se ele abusava dos seus poderes? Ora, chegou um momento, logo
a seguir à ressureição do Império, em que os reis deixaram de ser
conquistadores: acabara-se a excursão militar, acabara-se o saque, acabaram-se
as recompensas. Por que iriam os grandes de cada reino enfrentar as fadigas e
os perigos de cavalgadas intermináveis para estarem junto dum soberano que já nada
dava? Espaçaram as suas visitas. As cortes reais começam, pouco a pouco, a
despovoar-se, e o Estado, insensivelmente, decompôs-se.
A sua disjunção foi acelerada nessa mesma
época pelas invasões normandas, sarracenas e húngaras. O continente e as ilhas
viam surgir inimigos imprevistos. Os combates já não se travavam longe, fora
das fronteiras da cristandade, mas no seu próprio seio, localmente. Eram
tristes. Os bandos pagãos apareciam bruscamente, pilhavam, queimavam. Fugiam,
rápidos, em barcos ou a cavalo. O exército do rei, feito para a agressão
premeditada, pesado, lento no reunir, lento no mover-se, mostrava-se
completamente incapaz de resistir, de repelir, de impedir as incursões. No
perigo permanente em que o Ocidente se achou, os únicos chefes de guerra aptos
a restituir-lhe a paz foram os pequenos príncipes de cada região. Só eles
podiam suster ataques imprevistos, reunir rapidamente ao primeiro alerta todos
os homens válidos. Só eles podiam sustentar no seu domínio e munir duma
guarnição permanente as proteções da defesa, os castelos, esses grandes
cercados de terras onde todos os camponeses encontravam refúgio com os seus
animais. A segurança, decididamente, já não tinha que ver com o rei, mas com
estes senhores. Então a autoridade real recuou verdadeiramente. Continuou a
viver nas consciências, mas ao nível das representações míticas. No concreto,
no quotidiano da vida, todo o prestígio e todos os poderes de fato se
transportaram para os chefes locais, os duques e os condes. Estes tornaram-se
os verdadeiros heróis da resistência cristã. Armados de espadas miraculosas,
ajudados pelos anjos de Deus, forçavam os invasores a voltar pelo mesmo caminho
com as mãos vazias. Nas assembleias de guerreiros, cantavam-se em longas
melopeias cantilenas que metiam a ridículo a impotência dos soberanos e
exaltavam as proezas dos senhores.
Do Oeste e do Sul da cristandade latina, de
regiões mal submetidas aos Carolíngios e que as incursões dos saqueadores
acabavam de tratar pior, partiram duas mutações paralelas que afetaram os dois
setores principais da sociedade, uma, o povo laico, a outra, a Igreja. Os
homens, que antes em nome do rei, seu parente e seu senhor, reuniam em cada
província os contingentes sob as suas bandeiras, desligaram-se completamente do
soberano. É certo que se proclamavam ainda seus fiéis e, por vezes,
ocasionalmente, colocavam as suas mãos nas dele, em sinal de homenagem. Mas
consideravam agora seu bem próprio, elemento do patrimônio familiar, os poderes
de autoridade de que tinham recebido delegação. Exploraram-nos livremente e
transmitiram-nos ao mais velho dos filhos. Os maiores príncipes, os duques, os
que tinham encargo de defender todo um lado do reino, foram os primeiros a
tomar-se autônomos, no princípio do século X. A fragmentação política que
nasceu da sua indocilidade não progrediu muito mais no Norte e no Leste do
antigo império carolíngio, onde os reis estavam mais presentes e as estruturas
tribais mais vivas. Noutros lugares, prosseguiu. Não tardou que os condes, por
sua vez, se libertassem da tutela dos duques. Depois, nas proximidades do ano
mil, os principados condais desagregaram-se também. Cada um dos chefes que, num
cantão de florestas e clareiras, tinha a guarda duma fortaleza, constituiu em
tomo dela um pequeno Estado independente. No limiar do século XI, há reinos por
toda a parte. Sagram-se soberanos, e ninguém duvida de que sejam delegados de
Deus. Mas o poder militar, o poder de Julgar e de punir, passa a estar
dilapidado, disperso por uma multidão de células políticas de todos os
tamanhos.”
“Pouco a pouco durante o século XI,
espalha-se um vocábulo que se torna, primeiramente em França, o título
distintivo de toda a aristocracia. Sob a sua forma latina, esse termo exprime
somente a vocação militar. Mais preciso, o dialeto vulgar chama “cavaleiros” a
todos esses homens que, do alto da sua montada de guerra, dominam a massa dos
pobres e aterrorizam os monges. As armas, a aptidão para o combate, isso os
reúne. Alguns saem da velha nobreza diretamente aliada pelo serviço e pelo
parentesco aos reis da Alta Idade Média. Outros são grandes proprietários de
aldeia, bastante ricos para não trabalhar com as suas mãos e para manter o
arnês do soldado eficaz. Juntam-se a eles, menos afortunados, todos os moços de
armas que os senhores alimentam nos seus castelos, que dormem com o amo nas
grandes salas de madeira, que vivem dos seus dons, enfim, esses aventureiros
vindos não se sabe donde a aglomerar-se sob o estandarte dum jovem chefe para o
seguirem ao acaso dos combates e das cavalgadas para o lucro e para a glória. A
cavalaria, corpo díspar, encontra-se reunida, e cada vez mais solidamente,
pelos seus privilégios, pela situação no alto do edifício político e social, e
mais ainda pelo mesmo comportamento, pelas mesmas virtudes, pela mesma
esperança: os dos especialistas da guerra.
Todos rapazes. A alta cultura do século XI
ignora a mulher. A sua arte não lhe dá um lugar, ou quase. Não há figuras de
santas, ou então são ídolos de ouro com olhos de vespa, postados às portas das
trevas e cujo olhar perdido ninguém ousa enfrentar. As raras imagens femininas
que se enfeitam com alguma graça na decoração dos santuários são alegorias
coroadas que representam os meses e as estações, destroços que sobrevivem, com
as estrofes latinas com que o seu ritmo está de acordo, nos desastres da
estética clássica — irreais, inatuais, tanto como flores de retórica.
Hierática, distante, a Mãe de Deus mostra-se por vezes no seio das transições
da narrativa evangélica. Simples comparsa, na verdade: o seu rosto está no
plano de fundo como, nas assembleias de homens de guerra, o da esposa do
senhor. As mais das vezes, a mulher é uma liana, sinuosa, serpentina, a má erva
que se mistura com a boa semente para a estragar. Lasciva, não é ela o germe de
corrupção que os moralistas da Igreja denunciam, Eva tentadora, responsável
pela queda do homem e por todo o pecado do mundo?
Sociedade masculina, a cavalaria é uma
sociedade de herdeiros. Os laços de parentesco estruturam-na. O poder dos
senhores vivos apoia-se na glória dos senhores mortos, na riqueza e no renome
que os antepassados legaram à sua descendência como um depósito que cada
geração transmite àquela que a segue. Se os duques, os condes e os senhores dos
castelos puderam tomar o lugar dos reis e apoderar-se das suas prerrogativas,
foi, dizem eles, porque a sua linhagem se liga à dos soberanos por uma rede
confusa de parentescos. “O que a raça dá nenhuma vontade o tira, escreve o
bispo Adalberão, as descendências dos nobres provêm do sangue dos reis.” Eis
por que a memória dos antepassados desempenha neste grupo social tão grande
papel. O último dos corredores de aventuras reclama-se de um antepassado
paladino, e todo o cavaleiro se sente impelido para a ação pela corte dos
defuntos que em tempos idos ilustraram o nome que ele usa e que lhe pedirão
contas. A multidão destes mortos perde-se na noite do esquecimento. Mas cada
nobre conhece pelos seus nomes os fundadores da sua linhagem. As cantilenas dos
jograis fixaram a recordação destes heróis epônimos. Graças a elas, entraram na
lenda, entre os mitos intemporais onde continuam a viver. Os seus corpos
repousam reunidos na necrópole escolhida em tempos por aquele que,
primeiramente, afastando-se da casa do rei, se erigiu em poder independente.
Para estes túmulos converge o que há de mais vivo nas práticas religiosas. Em
acordo com as atitudes da aristocracia militar, o cristianismo do ano mil
aparece em primeiro lugar como uma religião dos mortos. A força das
solidariedades que unem na vida os membros duma linhagem, que os fazem
juntar-se em socorro daquele dentre eles que sofre um ataque e, se sucumbe, os
erguem para o vingar contra os parentes do agressor, fez reconhecer pelas
autoridades da Igreja que os parentes vivos podiam ainda contribuir para a
salvação dos trespassados e adquirir para eles as indulgências. As esmolas da
cavalaria — em que a criação artística encontra nessa época um dos seus mais
substanciais alimentos —respondem quase todas a esta preocupação: socorrer
além-túmulo os defuntos da linhagem.
Neste grupo social, dão o tom aqueles a quem
chamam os “novos”. Homens feitos. Terminaram a sua aprendizagem. Provaram a sua
força e a sua habilidade publicamente no termo da cerimônia coletiva de iniciação
que os introduziu solenemente na sociedade dos guerreiros Por muito tempo
ainda, no entanto, enquanto o pai não morre e não podem retirar das suas mãos o
governo do senhorio, suportam mal a dependência a que a economia agrária desse
tempo os condena na casa familiar. Evadem-se dela, correm o mundo com amigos da
sua idade, vagueiam em busca de presas e de prazeres. As virtudes principais da
cavalaria são por isso de valor agressivo: a coragem e a força. O herói que
todos querem igualar, celebrado pela jovem literatura em língua vulgar que as
assembleias guerreiras escutam, é um atleta talhado para o combate a cavalo.
Largo, espesso, pesado, as suas capacidades físicas são as primeiras a ser
exultadas. Só o corpo conta, com o coração — não o espírito. O futuro cavaleiro
não aprende a ler: o estudo estragar-lhe-ia a alma. Por escolha, a cavalaria é
iletrada. Situa na guerra, real ou fictícia, o ato central, aquele que dá o
sabor à vida, o jogo em que se arrisca tudo, a honra e a existência, mas donde
os melhores vêm ricos, triunfantes, adornados por uma glória digna dos seus
antepassados e cujos ecos vão ressoar de idade em idade. A cultura do século
XI, que mostra tão funda a marca dos homens, de guerra, assenta quase toda no
gosto da captura, no rapto e no assalto.
O cavaleiro só combate durante os dias belos,
e outras virtudes além das virtudes guerreiras formam os pilares subsidiários
da sua ética. Encerrado na hierarquia complexa das dedicações e das obrigações
honoríficas que, quando falecia a autoridade real, serviram para manter uma
espécie de disciplina na aristocracia do Ocidente, o herói cavaleiro é ao mesmo
tempo senhor e vassalo. Aprende pois a mostrar-se tão generoso como o melhor
dos senhores, tão leal como o melhor dos vassalos. Como o rei, senhor dos
senhores, seu modelo, o bom cavaleiro deve distribuir por aqueles a quem ama
tudo o que tem. Um duque da Normandia já não tinha mais terras para dar aos
seus homens, mas dizia: “O que possuo em bens móveis, vo-lo cederei
inteiramente: braçais e cinturões, couraças, capacetes e perneiras, cavalos,
achas de armas e estas belíssimas espadas ornamentadas. Incessantemente
gozareis, na minha morada, das minhas benesses e da glória que a cavalaria dá,
se, de bom grado, vos votardes ao meu serviço.” Liberalidade em primeiro lugar,
virtude cardeal. E no mesmo plano, lealdade. Não é possível, sem perder o
direito de aparecer de cabeça levantada nas reuniões militares, quebrar a fé
jurada. Neste nível do edifício social, todo o edifício da concórdia assenta
numa trama de juramentos individuais e coletivos e nas solidariedades que eles
estabelecem. Audácia, vigor, generosidade, fidelidade, são estas as faces da
honra, valor principal, alvo supremo da emulação permanente que é a vida de
guerra e de corte.
Analisar estes comportamentos e as atitudes
mentais que os determinam não é inútil a quem procure explicação para as
tonalidades específicas que vêm então revestir a obra de arte. Esta não é
criada sob a fiscalização dos homens de guerra, nem para seu próprio uso. Eles
enfeitam os seus corpos com joias. Os artesãos decoram para eles guardas de
espadas. As esposas e as filhas ornamentam com bordado os trajos de pompa e os
tecidos que se estendem nas grandes salas ou sobre as paredes dos oratórios
senhoriais. Mas estes objetos, pequenos na sua maior parte ou frágeis, povoam as
fronteiras dum império onde reinam, soberanas, a arquitetura, a escultura e a
pintura. A obra de arte, nesse tempo, é uma igreja. A grande arte é sagrada. Os
reis e os homens de oração continuam a ser, como antigamente, os únicos
ordenadores dela. Todavia, o espírito cavaleiresco invade este domínio,
infiltra-se nele, penetra nele em toda a sua profundidade. À medida que o seu
poder se desagrega e se dissolve pouco a pouco no seio do feudalismo que o
cerca, os reis de França, os de Inglaterra, e bem depressa o imperador, sentem
pouco a pouco tornarem-se eles próprios cavaleiros. Quem é pois ainda capaz de
dizer a diferença entre o ofício deles e o dum senhor privado? A ética dos
guerreiros impõe modelos à conduta daqueles. Quanto à Igreja, caiu nesta época
no domínio dos laicos. Entenda-se bem: dos cavaleiros.”

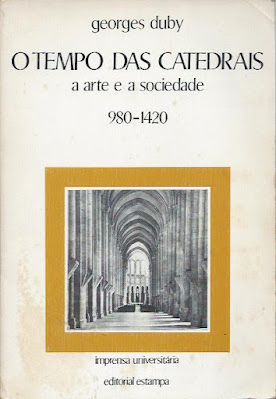
Nenhum comentário:
Postar um comentário