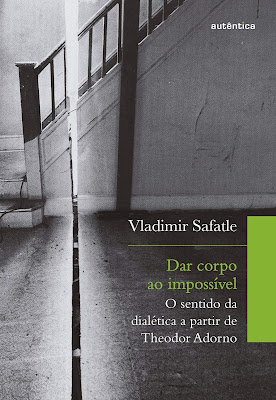Editora: Aquarius
ISBN:
978-85-6057-434-5
Opinião: ★★★☆☆
Páginas: 360
Artigos presentes no livro:
Fé, Razão e o Debate público – Agnaldo Cuoco Portugal / A crítica de Tobias Barreto à religião
natural de Jules Simon – Antônio Vidal Nunes / O problema de Deus e a
questão da religião em Xavier Zubiri – Everaldo Cescon / Pensamento pós-metafisico
e Sociedade pós-secular: uma recente entrevista de Habermas sobre Religião –
José Pedro Luchi / A Filosofia da religião em John Caputo. Uma primeira aproximação
– Júlio Zabatiero / Religião na esfera pública – Marcelo Martins Barreira
/ Equívocos sobre a morte de Deus na Fenomenologia do Espírito de Hegel –
Vítor Hugo de Oliveira Fieni / O projeto iluminista e a religião em Kant
– Rafael Pimenta Machado / O conceito de Religião como meio de crítica
interpretativa da religião no pensamento de E. Kant – Ernesto José Caetano /
Atualidade da filosofia kantiana da religião – Robson Ferreira Lima / A
crítica de Kant à História como pretensa legitimadora da Religião – Rafael
Hygino Meggiolaro / A felicidade como destino do homem na crítica kantiana
da religião – João Batista da Silva Junior / O conceito de Salvação em
Lutero e Kant – Ludmila Portela / O Agir entre finito e infinito: Críticas
de Hegel a Kant – Márcio Lourenço Garcia / A crítica de Hegel à Ética de
Kant na Fenomenologia do Espírito – Cleiton Barbosa / O Irracionalismo de
R. Otto em resposta ao racionalismo kantiano da religião – Edson Kretle dos
Santos / O conceito de Naturalismo em Habermas – Elaine Cristina Borges /
O Cristianismo na Idade da Interpretação segundo G. Vattimo – Marcony
Uliana
“As tendências de um instrumentalismo da razão,
que se pretenderia prioritário, de um individualismo empobrecedor, de um
ressecamento das fontes do sentido comunitário que uma liberdade vista apenas
como afirmação de espaços individuais poderia trazer, tudo isso pode encontrar um
antídoto no tipo da solidariedade religiosa.”
(José Pedro Luchi)
“Assim, a fé é também formada por uma decisão
do fiel, que não pode ser explicada por quaisquer critérios racionais de inferência.
Ela tampouco é apenas o resultado de um cálculo custo-benefício ou consequência
de uma percepção do divino. Ela pode até ser uma resposta a uma percepção como
essa, mas envolve uma escolha. A fé implica uma atitude de busca por estar
perto do divino na esperança de que todas as preocupações serão acalmadas e
todas as dúvidas serão resolvidas, mas acima de tudo porque se sente o desejo
de estar perto desse divino. E uma palavra comum para se descrever essa busca e
esse desejo de estar junto de algo ou alguém é “amor”. É por isso que D. Z. Phillips
(‘Faith, Skepticism and Religious Understanding’, 1992) estava certo
quando ele disse que conhecer Deus significa amá-lo, e que o amor não é uma questão
teórica, mas prática, que não é dirigida por qualquer cálculo de utilidade.
Nesse contexto, o amor é um movimento intencional que mostra confiança,
compromisso e dedicação apaixonada.”
(Agnaldo Cuoco Portugal)
“Homens da fé e homens da razão, clérigos e
leigos, basta de luta entre vocês e abraçai-vos como irmãos, pois ides cair
juntos no mesmo abismo.” (Tobias Barreto, Crítica de religião, 1977)
“Querendo transformar Deus em homem, ainda
que amplie ao infinito as capacidades humanas atribuídas ao ser supremo, os
filósofos distanciam-se ainda mais da tentativa de resolução do problema, pois
perambulam por caminhos sem saída. Um conselho ele deixa: “Deus é uma vasta pergunta
que ainda não teve resposta, porque tem sido feita aos abismos mudos. Será bom
que a filosofia não se gaste com tão loucas tentativas. Deus é um nome que só
tem vocativo” (BARRETO, 1977, p. 100).”
(Antônio Vidal Nunes)
“Na etapa madura do seu pensamento Xavier
Zubiri escreveu El Hombre y Dios 1998, p. 11-13, 275-9), obra na qual
expressa sua abordagem última ao tema de Deus. Numa breve introdução, 0 autor
explica porque se ocupou do tema do homem e Deus: “Deus é o título de um magno problema”
perante o qual todos – o teísta, o ateu e o agnóstico devem dar razões de sua
atitude. A única insensatez é pensar que se pode não tomar nenhuma atitude. «O
fundamental é descobrir que Deus é problema para todos”, pois, em última instância,
a existência de Deus é um problema que se reduz ao problema do homem por ser
homem, e não por ser religioso.”
(Everaldo Cescon)
“1º. Uma filosofia vestida de ciência que
pretenda ser continuadora da filosofia grega e opositora da religião se engana
em dois modos. A filosofia não é uma ciência como outra porque ela não se
dedica a investigar um mundo de objetos, sem considerar os próprios
pressupostos. Que as ciências não devam tematizar seu ponto de partida, é
claro. Mas o próprio da filosofia é a autorreflexão e não a totalização dos
objetos da ciência. Que um filósofo-cientista pretenda manter esse “de nenhum
lugar” significa “que ele é somente o cúmplice secreto do abandonado ‘ponto de
vista de, Deus’ da Metafísica” (Habermas). Essa falsa posição pode ser
caracterizada como ‘redução secularística’ da filosofia. De outro lado, como foi
mostrado, os ganhos filosóficos advindos da comunicação entre Filosofia e Religião
são historicamente inegáveis e abertos à continuidade.
2º. O pensamento pós-metafísico mantém a
distinção entre “tomar por verdade” no âmbito da ciência e no âmbito da religião.
O intercâmbio historicamente fecundo entre
Razão e Fé ser entendido como processo de aprendizado, no qual o estágio pós-metafísico
não simplesmente substitui e se libera dos anteriores. A genealogia do pensar
pós-metafísico conserva também seus degraus superados, enquanto eles não
esgotaram seu potencial. A crítica conscientizadora vai junto com a memória resgatadora”
(Habermas). Do ponto de vista político e espiritual, a modernidade não é nem
uma secularidade que precisa se manter dependente de suas raízes teológicas, se
não nada se teria aprendido; tampouco se deve entendê-la como substituta da
herança teológica e em permanente conflito com esta. Devemos poder nos mover “etsi
Deus non daretur” (como se Deus não existisse). A primeira posição, que
contesta a dependência teológica do mundo secular, se dirige contra as posições
políticas de Hans Blumemberg e Carl Schmidt.”
(José Pedro Luchi)
“Se em fases anteriores de seu pensamento
Habermas havia caracterizado suas relações com a religião com a expressão “nem apoiá-la
nem combatê-la”, agora ele a apoia enquanto “forma contemporânea do espírito”
que deve ser levada a sério, no seu Potencial de fonte guardadora de
solidariedade social, da qual a filosofia pode ter ainda algo a aprender.
Favorece a forma reflexiva da fé religiosa, não fundamentalista, que se entende
como uma presença construtora da sociedade liberal enquanto um elemento entre
outros, sem pretensão de totalidade nem de impor aos demais seus pontos de
vista nem de assumir posições condutoras da sociedade somente pelo fato de ser
religião.
O aprendizado de conteúdos antes
inacessíveis, ao nível social e pessoal-terapêutico, parece não estar esgotado.
De outro lado, tipo de religião fundamentalista é claramente combatido por Habermas.
Tem-se a impressão que o surgimento de grupos fundamentalistas despertou em Habermas
a percepção da atualidade da religião de um modo novo, tendo mesmo mudado significativamente
sua posição.
Não é mais possível uma neutralidade
distanciada, é preciso agora tomar posição, a partir de um discernimento, e
favorece: teoreticamente, no interesse da razão, aquelas formas de religião compatíveis
com o Estado democrático de Direito e mesmo promotoras dele.
Como indica a relação entre os conceitos de
pós-secular pós-metafísico, respectivamente referentes ao observador e participante,
o maior interesse de Habermas pelas religiões nos últimos anos corresponde ao
sentido: do sociólogo ao filósofo. Foi seu sensível “radar sociológico” em
relação ao movimento, das novas constelações de sentido da sociedade
contemporânea que o conduziu a refletir sobre o lugar lógico da religião num pensamento
pós-metafísico que, de si mesmo, dispensaria a religião como forma atualmente
relevante do espírit0, valorizando-a, sim, no quadro de uma memória do seu
processo de surgimento, memória da qual o pensamento pós-metafísico admite que
tem ainda algo a aprender. A posição permanece agnóstica. Porém ele não deixar
de admitir, ainda que com todas as cautelas: “E sem movimentos sociais nada se
movimenta. Esse é porém nosso problema hoje: Quem, exceto as Igrejas e Comunidades
de Fé oferece ainda motivos a partir dos quais se age coletiva e
solidariamente? E como nós sabemos, motivos religiosos, quando se tornam
politicamente efetivos, frequentemente uma bênção ambígua”.8 Na
carência de recursos alimentadores da solidariedade social, as religiões e
comunidades de fé não fundamentalistas representam uma preciosa fonte,
equiparável aos movimentos sociais, que precisa ser levada a sério e tratada no
interesse da razão solidária.
Um Estado teocrático, com fundamento na religião,
e interferência direta dos líderes religiosos no poder do Estado, certamente
não toleraria pessoas que pensassem e agissem diferentemente. Sem dúvida também
Hegel deixa claro que a qualidade do Estado depende do conceito de Deus. Ele
destaca a inc0mpatibilidade do estado racional com o fanatismo religioso. Um
Estado de liberdade universal só pode existir onde a individualidade é
reconhecida como positiva na essência divina. Hegel reconhece que o temor de
Deus pode favorecer, de um lado, a obediência ao príncipe e à lei, o
cumprimento dos deveres; de outro lado, porém, “esse temor pode, já que ele
eleva o universal sobre o particular, voltar-se contra esse último, tornar-se
fanático e atuar de forma incendiária e destruidora do Estado, suas estruturas
e instituições. Por isso o temor de Deus deve ser também, refletido e mantido
com uma certa frieza, para que não se volte contra e destrua aquilo que por ele
deve ser protegido e resguardado”9.
Interessante é a crítica que W. Huber10
exercita sobre a compreensão habermasiana do conceito de “secularização”, do ponto
de vista da avaliação do processo do desenvolvimento social moderno. A
introdução do conceito de “pós-secular” para a sociedade contemporânea
pareceria pressupor uma época secular, isto é, onde a religião não tivesse sido
irrelevante.
Pôde-se chegar a tal concepção de uma
sociedade secular porque foi dado o passo para o Estado e para uma ordenação jurídica
secular, não mais legitimados pela religião, e para uma ciência que estrutura e
explica os fenômenos sem a hipótese Deus. Daí se concluiu que a sociedade como
um todo poderia ser considerada como “secular”; porém assim se subdimensiona a relevância
da fé, que, pelo contrário, permanece uma base determinante para a vida de
grande parte dos cidadãos.
A nova atenção dada à religião por Habermas
não é somente um elemento de sua história pessoal de vida, mas uma mudança na
percepção da própria sociedade alemã sobre si mesma.”
8 HABERMAS. J. Ich bin alt, aber nicht fromm geworden In: FUNK, M. Ueber
Habermas. Gespraeche mit Zeitgenossen Darmstadt: Primus
Verlag, 2008, 181ss.
9 HEGEL, G. F. Filosofia da História, Brasília:
Editora Universidade de Brasília, 2008, p. 48. Modifiquei um pouco tradução,
para maior precisão e clareza.
10 HUBER, W. Habermas in protestantischen
Tradition In: FUNK. M. Ueber Habermas. Gespraeche mit Zeitgenossen
Darmstadt: Primus Verlag, 2008, 130ss.
(José Pedro Luchi)
“Não é possível, segundo Caputo, compreender
a religiosidade humana (ou “religião”6) se o lugar a partir do qual
a estudamos não for o das orações e lágrimas. Isto não quer dizer que pessoas
não-religiosas sejam incapazes de compreender a religião, mas, sim, que o
próprio conceito moderno de “religião” é um empecilho à compreensão do fenômeno
religioso. Religião é um conceito moderno, racional, construído mediante
um radical binarismo que contrapôs fé e razão, filosofia e religião como polos
antagônicos no espaço da Verdade. A religião é concebida na Modernidade como
uma falta, um resquício do mundo pré-moderno e, por isso, na melhor das
hipóteses infrarracional, para não dizer irracional.7
Os filósofos modernos, climaticamente no
Iluminismo, conceberam a religião como uma esfera separada da existência humana
e projetaram tal compreensão para as crenças e práticas cristãs da Europa
pré-moderna. Tal maquinaria conceitual lhe impediu de enxergar adequadamente o
fenômeno religioso, tomado exclusivamente como uma atitude dogmática,
pré-racional ou mesmo irracional, antagônica à razão, às ciências e à
filosofia. A religião foi extirpada do que lhe é próprio – a experiência humana
da busca – e reduzida a um epifenômeno da eticidade, ou a um desvio da libido,
ou à consciência alienada.
Retornando a Agostinho e Anselmo, Caputo nota
que a experiência pré-moderna da religião cristã não pode ser concebida como
uma esfera particular da experiência humana. A religião impregnava a
mentalidade, a cosmovisão europeia pré-moderna, de tal modo que o adjetivo “religioso”
não se referia a pessoas que “tinham” religião, mas ao grau de compromisso da
pessoa com a religião – o que chamaríamos hoje de religiosidade ou de espiritualidade.
Ninguém conceberia religião como uma esfera particular da vida, mas como o
próprio ambiente da vida humana. Não se poderia conceber Deus como objeto de
dúvida, mas apenas como sujeito de busca (ou não). Tanto Agostinho como Anselmo
falam da busca de Deus nos termos de um círculo, no qual Deus já é concebido
como existente, soberano, digno de honra e adoração. O Deus conhecido é o Deus
a quem se busca, o Deus que se deseja conhecer mais e melhor. O Deus que criou
o ser humano e o dotou de racionalidade, de modo que igualmente a razão não
pode ser concebida como uma esfera particular da vida, e sim como o ambiente da
vida propriamente humana.8”
6 Caputo usa constantemente o termo “religion”
para distintos referentes – uma religião em particular, a religião enquanto conceito,
religião como equivalente de religiosidade, religião como um componente da
condição humana que busca a transcendência. Normalmente usarei o termo no
singular para me referir ao “conceito” filosófico.
7 Para esta seção sobre o conceito moderno de
religião, baseei-me, principalmente, em CAPUTO, John. On Religion. Londres: Routledge, 2001, p.
37-66.
8 “That is the sense of religion that I am defending. Vera religio
meant being genuinely religious, like being truly just, not “the true religion”
versus “the false religion.” CAPUTO, 2001, p. 43. (“Este é
o sentido de religião que defendo. Vera religio significa ser genuinamente
religioso, semelhantemente a ser verdadeiramente justo, e não “a verdadeira
religião” versus “a falsa religião”.”)
(Júlio Zabatiero)
“O pensamento moderno torna impossível a
religião. Consequentemente, reduzida a epifenômeno da ética – redução que é
apenas um passo no caminho da rejeição pura e simples da religião enquanto
dimensão integrante e significativa da vida humana. Rejeição cujo diagnóstico
mais duro e solene pode ser encontrado em famoso discurso de Max Weber: “a quem
não conseguir suportar virilmente o destino da nossa época há que dizer:
Regresse, em silêncio, lhana e simplesmente, sem a habitual e pública
propaganda dos renegados, aos amplos e compassivos braços das velhas Igrejas.
Estas não lhe levantarão dificuldades. Seja como for, terá de, desta ou de
outra maneira, fazer – é inevitável – o ‘sacrifício do intelecto’. Não o
condenaremos, se tal efetivamente conseguir”.10 “Religião nos
limites da razão somente”, religião mal entendida pelo Iluminismo
não-iluminado, exilada, reduzida, rejeitada, negada.”
10 WEBER, Max. Ciência como Vocação. Edição
portuguesa, disponível em: www.lusosofia.net/textos/weber_a_ciencia_como_vocacao.pdf.
(Júlio Zabatiero)
“Religião não é questão de verdade ou
falsidade. É questão de relacionamento, de intimidade, de fidelidade ou
infidelidade, distanciamento, inimizade. Não se pode compreender a religião se
dela abstrairmos os corpos vivos, patéticos, intersubjetivos,
intercomunicantes. Não se pode compreender a religião se a abstrairmos de seus
ritos, crenças, práticas, instituições. É preciso iluminar o iluminismo,
reencantar os desencantados ouvidos e olhos do sujeito moderno para se
compreender a religião.”
(Júlio Zabatiero)
“Na seção anterior deste ensaio fiz alusão a
uma frase de Derrida sobre a leitura dele por Caputo, e agora trago a voz do
próprio Derrida para a discussão.
“Tenho várias razões para dizer isto. Em primeiro lugar, ele me lê de um
modo não somente agradável de ser lido, mas também do modo pelo qual eu me
esforço para ler outras pessoas – isto é, de modo generoso na medida em que tenta
creditar ao texto e ao outro o máximo possível, não a fim de incorporar,
substituir ou identificar-se com o outro, mas para ‘contrasinalizar’ o texto,
por assim dizer. Isto envolve aprovar e afirmar o texto, não de modo
complacente ou dogmático, mas em e através do gesto de dizer sim ao
texto”.15
Em um ambiente tão competitivo e
politicamente carregado (por mais que tais aspectos sejam negados) como o
universitário, leituras afirmativas são casos relativamente raros. Saber dizer sim
é uma arte hermenêutica complexa e exigente. Dizer sim sem ser
subserviente ao texto, sem ser subserviente ao campo acadêmico, sem ser
subserviente à carreira acadêmica. Dizer sim que matiza todos os nãos
que precisam ser enviados ao interlocutor lido.
Retorno a Derrida:
“Ele faz isto sem abrir mão de seu próprio rigor exigente, sua própria
cultura e memória, bem como sua relação singular com outros textos que eu não
conheço. Assim, mesmo quando ele aparentemente está lendo a mim, eu aprendo
dele, pois ele ilumina meu texto com sua própria cultura e percepção. Para
exemplificar: uma vez que ele conhece a obra de muitos teólogos, tais como
Meister Echkart, Lutero e Kierkegaard, melhor do que eu, ele é capaz de
escrever seu próprio texto, seguindo sua própria trajetória e seu próprio
desejo, sem, ao mesmo tempo, me trair. Assim, não o considero, de fato, como
meu comentarista ou intérprete. É outro tipo de gesto”.16
Em outras palavras, Caputo lê Derrida como
qualquer texto deveria ser lido, mediante um instigante e pessoal emaranhado de
relações intertextuais e interdiscursivas, que chega à intenção
não-intencionada de autor e texto, sem se transformar em mera boa-intenção
do leitor. Não se trata de descobrir o sentido verdadeiro do texto, a
verdadeira intenção ou intencionalidade de seu autor. Trata-se de dialogar com
o texto, de colocar em diálogo diferentes universos discursivos, de criar novos
textos, criativamente leais ao texto lido.
“Outra razão pela qual sou tão grato por seus escritos é que quando ele
lê meus textos, o que é especialmente o caso em Prayers and Tears, ele é
o primeiro, e até agora, o único, a unir os elementos mais filosóficos e
teóricos de meus escritos àqueles que são mais autobiográficos. Como alguns
textos recentes mostram, os dois são, para mim, várias vezes indistinguíveis.”17
E Caputo percebe tal vínculo sem incorrer em
psicologismos ou em análises psicológicas de Derrida. Percebe tal vínculo nos
próprios textos, desemaranhando o que a exegese moderna se tornou incapaz de
captar – a pessoa no texto, as paixões textualizadas – e não a pessoa
extra-texto, a intenção pura, seja a da fenomenologia ontoteológica, seja a da
exegese científica (metódica), seja a da fusão de horizontes. Captar a pessoa
em sua flutuabilidade, em sua insustentável leveza, em seus inseparáveis e
indistinguíveis momentos. Captar a pessoa em seu fluir, não o sujeito racional
moderno, não o autor desmascarado tão habilmente por Roland Barthes ou Michel
Foucault.
Caputo reconhece a validade do conceito da “morte
do autor”, que não é confundido – o que muitos leitores de Foucault e Barthes
não conseguem deixar de fazer – com a negação do autor:
“Do ponto de vista do leitor, penso que permanece verdadeiro o fato de
que a ‘morte do autor’ é uma noção válida, pois ela não tem a ver com criação,
mas com recepção. Um leitor pode ler um texto sem se preocupar com as alegrias,
traumas e paixão pessoal que deram luz ao texto. O texto tem vida própria. A
noção da morte do autor, que é suficientemente válida, opera do ponto de vista
de um leitor ou da recepção. Para o escritor, porém, o autor, isto é
incompreensível, é sem sentido”.18
Escrever e ler são distintos e complementares
jogos, mas não se pode jogar o jogo da leitura a partir das regras do da
autoria, e vice-versa. Tentar seguir regras inadequadas deste tipo acaba por
resultar em uma transfiguração do autor, em uma redução do autor à imagem que
dele faz o leitor.
A interpretação de Derrida por Caputo, de
modo coerente com sua concepção de leitura, não transforma o filósofo em
religioso:
“Também sou muito grato a Jack neste aspecto, porque ele não tenta me
transformar em uma pessoa piedosa. Ele respeita o fato de que eu posso ser um
ateu, e, é claro, ele assume todas as complicações que este fato sugere. Penso
que ele está correto em mencionar isto porque minha relação com a religião é muito
complicada e ele respeita o quão complicada é esta relação. Sem tentar me
atrair de volta para a religião, ele tenta compreender o que está em luta em
mim mesmo”.19
Captar a pessoa em seu fluir é captar a
pessoa em sua complexidade, em sua conflitividade, em suas contradições e complicações,
sem tentar reduzir essa complexidade a conceitos e explicações simples e
claros.
Enfim,
“ele presta atenção aos mínimos detalhes que são significativos para
mim, e ele é o único que realmente presta atenção aos motivos, detalhes,
metonímias, ou sutis tropos e conexões significativos, os quais, até onde posso
perceber, passam despercebidos até mesmo de meus leitores mais generosos, de
meus leitores mais amigáveis. Estas são as razões por que sou tão grato”.20
Para um leitor que vem do campo da exegese
bíblica, é fácil reconhecer o quão custoso é ler um texto em seus exigentes
detalhes, gastar horas contemplativamente deixando-se guiar pelo texto, permitindo
o fluir e o fruir do desejo de compreender o texto melhor até de que seu
próprio autor. Ler realmente um texto, nos limites do sistema universitário,
sob as exigências férreas de publicar, ensinar, gerenciar carreira tem se
tornado cada vez mais uma demanda impossível. Lemos superfícies textuais,
produzimos achatamentos, esquematizações, formulamos juízos. Ler, porém, é
outro gesto. É fruição, é amizade, é lealdade incondicional. É pathos!
Sequestrando a voz de Derrida, ler é manifestação da différance.”
15 DERRIDA, Jacques. “The Becoming Possible of the Impossible. An
Interview with Jacques Derrida”. In: DOOLEY, Mark (ed.) A Passion for the
Impossible. John D. Caputo in Focus. Albany: SUNY Press, 2003, p. 21.
16 DERRIDA, 2003, p. 21.
17 DERRIDA, 2003, p. 22.
18 CAPUTO, John. “What do I love when I love my God? An interview with
John D. Caputo”. In: OLTHUIS, James H. (ed.). Religion with/out Religion.
The Prayers and Tears of John D. Caputo. Londres:
Routledge, 2002, p. 150.
19 DERRIDA, 2003, p. 23.
20 DERRIDA, 2003, p. 22.
(Júlio Zabatiero)
“A genealogia do religioso é encontrada em
uma hermenêutica do sofrimento. O religioso é uma resposta ao que se dá e se
retira no sofrimento. O sofrimento apresenta-se à mente religiosa como um
ultraje moral fundamental, uma violência injustificada que desperdiça a vida.
Assim, a atitude religiosa ergue-se precisamente como um protesto contra o
sofrimento. Ela é essencialmente desafiadora, protestante, protestando contra
uma violação da vida que não pode ser deixada sem resposta e católica, porque
ela fala em nome de todos os que sofrem. Não penso que a religião aceita o
sofrimento como vontade de Deus ou como uma punição pelo pecado, ou como meio
de santificação, pelo menos não em sua forma mais robusta e sadia. Penso, sim,
que ela protesta contra o sofrimento em nome da vida e que ela afirma Deus a
fim de tornar audível seu protesto a favor da vida, de escrever seu protesto
com letras capitais. Não penso que ela comece de cima, com Deus, como se
expulsa do céu, e então explique o sofrimento como um movimento descendente da
vontade de Deus, ou como parte de uma estratégia redentora. Ao contrário, ela
começa embaixo, deixando-se levar pelo fluxo, com o sofrimento, e, então,
afirma Deus em um movimento ascendente, como uma resposta ao sofrimento e
expressão de sua indignação. A genealogia da religião no sofrimento significa
que a afirmação de Deus está implícita na afirmação da vida e no protesto
contra o sofrimento. A religião surge como uma expressão de solidariedade com o
sofrimento.”26
26 CAPUTO, 1987, p. 280.
(Júlio Zabatiero)