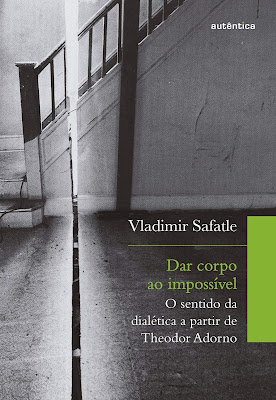Editora: Autêntica
ISBN: 978-85-5130-455-6
Opinião: ★★☆☆☆
Páginas: 320
Sinopse: Ver Parte
I
“A ampliação das estratégias da crítica feita por Adorno tem sua razão
histórica. Vimos como Marx critica a dialética hegeliana por ter em vista um horizonte
histórico marcado pelo caráter retardatário da realidade alemã e seu sistema de
“compensações simbólicas” através do recurso às dinâmicas de superação
produzidas pela Ideia. Já Adorno, nos anos 50 e 60 do século XX (momento em que
ele se volta de forma mais sistemática para a reconstrução da dialética), não
está exatamente diante de um horizonte histórico de descompasso entre avanço da
Ideia e atraso da efetividade. Mais correto seria dizer que ele se confronta
com um momento histórico de aparente fortalecimento da capacidade de
organização sistêmica do capitalismo e de seu horizonte normativo através dos
desdobramentos do “capitalismo de estado”. Uma organização que se expressa não
apenas em um sistema até então inédito de gestão de crises e de previsão de
demandas através de instâncias não-privadas de regulação, o qual leva Adorno a
afirmar que nossa época conheceria uma predominância da força sistêmica das
relações de produção sobre o caráter disruptivo das forças produtivas. Adorno
insistirá também em um processo convergente de gestão social no qual os campos
da cultura e da economia, assim como dinâmicas sociais de trabalho, desejo e
linguagem, obedecem a um profundo processo de integração.
Esse horizonte aparece a
Adorno como um horizonte de máxima integração que se traduz em um princípio
social de paralisia e conservação ainda mais problemático do que aquele
apontado por Marx, já que a integração entre força reguladora do Estado e mercado
permitiria a limitação dos processos de pauperização e precarização que poderiam
ser o fundamento de um sofrimento social capaz de levar a ações de ruptura. Mas
esta pretensa limitação dos processos de espoliação econômica (afinal, é sempre
bom lembrar, Adorno não viu a ascensão neoliberal dos anos setenta, seu
horizonte é o da ascensão do Estado providência e, definitivamente, Adorno não é
um teórico da socialdemocracia, mas um de seus críticos mais conscientes) seria
paga pelo aprofundamento das dinâmicas de alienação social através da
industrialização do campo da cultura e a consequente estereotipia das relações
intersubjetivas e das relações a si. O que explica a insistência em compreender
a irredutibilidade da alienação mesmo em situações nas quais a espoliação teria
pretensamente sido controlada. (...)
De toda forma, levemos em
conta uma contextualização histórica necessária. Pois se configurações
importantes da estratégia adorniana eram resultantes da tomada de posição a
respeito de uma situação histórica fundada no advento do Estado providência, há
de se notar que o colapso atual dessa situação e a consolidação de uma
alternativa neoliberal recoloca a crítica diante de uma sociedade com alto
potencial de antagonismo. Dessa forma, a crítica pode insistir novamente em
dinâmicas necessárias de emergência de sujeitos políticos, em uma certa
recuperação de modelos presentes em Marx, e de forma mais explícita do que
Adorno poderia fazer no interior de seu horizonte histórico de integração da
classe proletária à economia social de mercado alemã (que Adorno compreendia
como o horizonte privilegiado de desenvolvimento do capitalismo). É verdade que
o advento do neoliberalismo não implica em obsolescência da consolidação da
estrutura repressiva do “capitalismo de Estado”. Não só na esfera econômica, o
Estado permanece em sua função de intervenção, garantindo as condições para o
processo de monopolização da economia. Na esfera social, encontramos o Estado a
gerir dispositivos de integração, mas, diferentemente do estado do bem-estar
social, não se trata mais de uma integração pelas vias da promessa de limitação
da pauperização. Trata-se de uma integração pelo uso do paradigma da
insegurança social generalizada, ou seja, integração através da paralisia
provocada pelo medo da morte social. Nessas condições, o antagonismo pode se
recolocar de forma mais explícita permitindo inflexões na dialética que
apareciam como impossíveis a Adorno.”
“Há de se lembrar que o conceito de proletariado tem, em Marx, uma realidade
que não é apenas sociológica. Ele descreve também uma posição ontológica ligada
à despossessão generalizada como condição para a ação efetiva, assim como
ligada à expressão da negatividade e da irredutibilidade às predicações como
posição fundamental do sujeito269. Através de uma situação na qual sujeitos
aparecem como profundamente despossuídos, os vínculos às atuais formas de vida
e à seus regimes disciplinares se fragilizam, permitindo a emergência de um
novo sujeito. A despossessão e a desidentificação podem aparecer como a
condição fundamental da recuperação política do proletariado, para além de sua
restrição à descrição sociológica da classe dos trabalhadores que tem apenas
sua força de trabalho.
Em dado momento, Adorno
afirma: “A confrontação (Gegenüberstellung)
entre burguês e proletário nega tanto o conceito burguês de homem assim como os
conceitos da economia burguesa”270. Colocações desta natureza, que
articulam claramente crítica da economia política e crítica da estrutura
disciplinar de constituição de figuras da subjetividade, mereceriam ser melhor
exploradas. Pois se nos perguntarmos sobre o que caracteriza tal antropologia
do sujeito burguês veremos uma certa ligação à identidade, à relações por
propriedade, à abstração, à funcionalidade. Tais características
necessariamente são negadas com o advento do proletariado. Assim, a dicotomia
entre burguês e proletário não é apenas resultado de um problema de distribuição
e de espoliação econômica (que, é sempre bom lembrar, retorna de forma muito
mais forte no interior do neoliberalismo). Ela é expressão de um antagonismo a
respeito de formas do sujeito, ou seja, um antagonismo sobre figuras da
subjetividade. A ponto de Adorno afirmar que o desaparecimento da autonomia
do mercado e da individualidade burguesa implica o desaparecimento do seu
oposto, a saber, a desumanização daqueles rejeitados pela sociedade. Tal
desumanização não aponta, no entanto, para a perda do que a individualidade
burguesa entende por “humanidade”. Ela aponta para a impossibilidade da
emergência de uma “humanidade” que nos retiraria desta pré-história contínua
travestida de história da ascensão e hegemonia da burguesia. Neste sentido,
lembremos de afirmações de Marx e Engels como:
A relação comunitária em que entram os indivíduos
de uma classe, relação condicionada por seus interesses comuns frente a um terceiro,
era sempre uma comunidade a qual pertenciam esses indivíduos somente na
condição de indivíduos médios, somente enquanto viviam dentro das condições de
existência de sua classe, uma relação que não os unia como indivíduos, mas como
membros de uma classe. Na comunidade dos proletários revolucionários, ao
contrário, que tomam sob seu controle suas condições de existência e a de todos
os membros da sociedade, ocorre justamente o oposto; tomam parte dela os indivíduos
como indivíduos271.
269 Tentei desenvolver
este ponto no quarto capítulo de SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos, Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
270 ADORNO, Theodor. Soziologische Schriften I, p. 389.
271 MARX e ENGELS. A Ideologia
alemã, p. 102.
Notem a distinção feita
por Marx e Engels. Antes do advento do proletariado como classe revolucionária,
os indivíduos só formavam classes enquanto resposta a uma luta comum contra um
terceiro, contra outra classe. Ou seja, a classe aparece assim como uma
associação condicionada pela existência de um terceiro excluído, dentro dos
usos políticos da distinção amigo/inimigo. Mas por ser uma estrutura defensiva,
ela necessariamente definirá os indivíduos a partir de um modo de pertencimento
baseado na partilha geral de atributos diferenciais que constituem a classe
como um conjunto. A classe funda assim uma identidade por partilha de
atribuição e toda identidade desta natureza é sempre uma operação defensiva.
Daí a ideia de que, no interior da classe, os indivíduos aparecem apenas como indivíduos
médios, ou seja, indivíduos submetidos a um padrão, a uma mediana com a qual
todos devem se conformar.
Já na associação de
indivíduos livres produzida pelo proletariado, (e há de se compreender que não se
trata aqui da noção liberal de indivíduo, mas uma noção dialética de
singularidade) podem aparecer como não mais submetidos a uma definição de
classe. Primeiro, eles não se submetem mais à divisão do trabalho, por isto sua
atividade não é compreendida como trabalho. Como dirão Marx e Engels, o proletariado
elimina o trabalho. Por outro lado, eles não se confrontam mais com um terceiro
excluído, por isto sua ascensão é a dissolução de todas as classes, é o fim da
compreensão da vida social como constituída por classes e a realização possível
do da totalidade própria ao ser do gênero. Marx e Engels chegam a falar em: “apropriação
de uma totalidade de forças produtivas e no consequente desenvolvimento de uma
totalidade de capacidades”272. A apropriação da totalidade só é
possível porque não há mais uma perspectiva de classe em operação. Nesse momento,
outra história começa: uma história do ser humano. Esse horizonte não pode ser
dissociado da dialética negativa de Adorno.”
“Há uma certa ironia aqui. Pois tudo se passa
como se Adorno acusasse Heidegger de fazer uma certa “‘dialética negativa”, mas
uma peculiar dialética negativa feita apenas com negações simples na qual, por
isso, o ser precisará perpetuar indefinidamente sua negação aos entes para se
manifestar Algo como um juízo de existência sem faticidade expresso na
ideia de subtração de todos os predicados. Daí por que Heidegger acabaria por
tratar o ser como “identidade, puro ser si mesmo, desprovido de sua alteridade”.329
Não é difícil perceber que Adorno nega ao ser a possibilidade de ele possuir
uma determinação imanente, o que demonstra claramente a estratégia dialética de
não pensar exatamente por rupturas, mas por metamorfoses.
No interior de um pensamento dialético, o
modo de determinação dos entes não pode ser exatamente contraposto a outro modo
de determinações sem que não se transforme em uma mera duplicação, em um
decalque do primeiro pelo segundo. Pois, para uma teoria do absoluto, como a
que está na base do pensamento dialético (e mesmo uma dialética negativa opera
com um conceito de absoluto sob a figura da totalidade pressuposta, como tentei
defender no segundo capítulo deste livro), não é possível haver dois modos gerais
de determinação em relação de exterioridade indiferente um para com o outro. Na
verdade, é possível apenas que o modo de determinação dos entes seja
transmutado em seu outro, ou seja, é possível apenas que ele, de certa forma,
imploda-se em um movimento de realização do absoluto. A dialética não é uma
teoria das contraposições, mas uma teoria das metamorfoses
Por isso, melhor seria, ao menos segundo a
perspectiva de Adorno, entender como os entes sempre remetem para além de si
mesmos em um movimento que é processo, não exatamente ser: Isso explica por que
Adorno pode dizer que Heidegger para no limiar de uma dialética sem processualidade,
paralisada pela procura em realizar uma estabilidade que a verdadeira dialética
saberá criticar por assumir a reflexão a respeito da imbricação interna entre
sujeito e objeto.330
É a razão pela qual esta negação indefinida
do ser heideggeriano precisaria aparecer, paradoxalmente, como algo firme:
A mais urgente das necessidades hoje parece ser a necessidade de algo
firme. Ela inspira as ontologias; elas se adaptam a essa necessidade. Ela possui
a sua justificação no fato de que se quer segurança, de que não se quer ser
enterrado por uma dinâmica histórica contra a qual as pessoas se sentem
impotentes. O imperturbável gostaria de conservar aquilo que é antigo e
condenado. Quanto mais desesperançadamente as formas sociais existentes
bloqueiam essa nostalgia, tanto mais irresistível a autoconservação desesperada
introduzida em uma filosofia que deve ser as duas coisas ao mesmo tempo,
desespero e autoconservação. Se a ameaça desaparece, então com certeza também
desapareceria com ela a sua inversão positiva, que não é ela mesma outra coisa
senão seu negativo abstrato.331
Assim, se não há ontologia do ser no
pensamento dialético, é porque o conceito central só poderia ser um conceito
reflexivo, no sentido de um conceito que descreve o movimento de imbricação
entre categorias até então opostas, que permite a intelecção das transformações
mútuas entre o que se separa da existência e o que se determina em uma
situação. Esse conceito não será o ser, mas a essência. Como já disse, há uma
certa ontologia no interior da dialética, mas ela será uma ontologia da processualidade
e das metamorfoses categoriais contínuas.
Heidegger compreende a essência hegeliana
como desdobramento da evtpytta de Aristóteles.332 No entanto, o
conceito aristotélico é pensado no interior de um movimento de efetivação que é
passagem da potência ao ato. Contra isso, há de se lembrar que nem todas as
figuras do movimento que animam a essência hegeliana são pensáveis como
passagem da potência ao ato. Se assim fosse, não haveria sentido, por exemplo,
em falar: “o que em geral move o mundo é a contradição”333. Pois não
há contradição alguma na passagem da potência ao ato. Se a contradição
desempenha um papel tio central na noção hegeliana de movimento é porque,
frente essência hegeliana e à evepytla aristotélica, não estamos diante de
conceito simétricos.”
329 ADORNO, Dialética negativa, p, 95.
330 Por isso, Adorno pode dizer: “Heidegger segue a dialética até o ponto em que nem o
sujeito, nem o objeto são algo imediato e último, mas salta para fora dela na
medida em que busca a se lançar para além deles em direção a algo imediato e
primeiro” (ADORNO, Dialética
negativa, p 97).
331 Idem, p. 87
332 HEIDEGGER, Marcas do caminho, p.
446.
“A experiência do campo de concentração não
é, para Adorno, puro apanágio do nazismo. Uma história do campo de concentração
nos levaria ao colonialismo (como os campos de reconcentración criados
pelos espanhóis em Cuba no final do século XIX ou os campos britânicos contra
os afrikaners na Segunda Guerra dos Boers, no início do século XX, no quais
foram mortos em torno de 26.000 pessoas). Ou seja, a experiência do campo de
concentração é a expressão mais bem-acabada da forma colonial própria ao desenvolvimento
do capitalismo monopolista e suas estruturas de controle e exclusão em relação
à “humanidade”. Isso talvez possa nos permitir contextualizar melhor o
imperativo moral fundado na interdição de que Auschwitz se repita, de que uma
forma fascista de vida não se imponha sob suas múltiplas formas.”
“No entanto, tal interesse não pode ser
abstraído também do diagnóstico de que o capitalismo em meados do século XX se
transformara em um “capitalismo de Estado” (em versões autoritárias e
democráticas) que teria se imposto como modelo de gestão social baseado na
regulação e controle dos agentes econômicos pela capacidade de planificação
própria a uma economia de comando. Como insisti anteriormente, nesse modelo de
gestão, a força de transformação social ligada aos conflitos de classe e lutas
estruturais contra a pauperização parecia ter sido em larga medida desativada
devido aos processos de integração da classe operária a redes de assistência e
participação limitada na riqueza social. Essa dinâmica de capitalismo de Estado
era o ponto de contato, utilizado pelos frankfurtianos, entre a democracia
liberal e as experiências totalitárias do pré-guerra.
Vimos como, mesmo sem admitir a integralidade
do diagnóstico de Friedrich Pollock a respeito da desativação do conflito
social, Adorno lembrará mais de uma vez que o conceito de classe não seria mais
operativo por não haver condições de apelar a uma consciência de classe. Essa
impossibilidade de consolidação de consciência de classe não era apenas um dado
sociológico. Havia uma impossibilidade psicológica de sujeitos se verem como
encarnações de uma mesma consciência de classe devido à anestesia em relação ao
sofrimento social de alienação. Nesse sentido, lembremos como a gestão social
própria às sociedades do capitalismo de Estado havia aprofundado o que Adorno
chamava de “expropriação do inconsciente pelo controle social”, ou seja, uma expropriação
pulsional direta que se serve do enfraquecimento do Eu, da ascensão das patologias
narcísicas e do declínio dos processos de identificação no interior do núcleo familiar
para neutralizar o conflito entre princípio de prazer e princípio de realidade
através de uma satisfação socialmente administrada. Essa neutralização do
conflito através da integração produziria um nível fundamental de anestesia em
relação à experiência social de alienação que ultrapassará o quadro estrito do capitalismo
de Estado, sendo peça constitutiva da desarticulação dos processos de incorporação
política do descontentamento social mesmo em fases posteriores, como no caso do
capitalismo neoliberal.376
De fato, as regulações e integrações
socioeconômicas não poderiam se impor sem regulações e integrações
psicológico-culturais. A atenção à imbricação entre estes dois modos de
regulação será uma característica da crítica social frankfurtiana. Nesse
contexto, há de se falar em “expropriação pulsional” porque não se trata apenas
de uma dinâmica social de socialização do desejo, de sua inscrição no interior
de uma rede simbólica.377 O capitalismo saberá, paulatinamente,
expropriar o excesso pulsional (tópico maior do que os frankfurtianos chamarão
de dessublimação repressiva), dar uma medida ao que antes alimentava as transgressões
da pulsão, mesmo que se trate da contabilidade da desmedida, ou antes, da submissão
da desmedida à contabilidade. Ele saberá fazê-lo através dos mecanismos
libidinais presentes na indústria cultural, e não será um acaso se encontrarmos
uma pletora de conceitos psicanalíticos mobilizados nos estudos adornianos sobre
a indústria cultural, a começar pelo conceito de “fetichismo” aplicado ao campo
da cultura: resultado de uma costura entre temáticas marxistas e psicanalíticas.378
A ponto de Adorno afirmar que a indústria cultural seria uma espécie de “psicanálise
ao avesso”.
Desenvolvendo as temáticas da dessublimação repressiva
como forma de integração social e desativação de conflitos, Adorno falará, por
exemplo, de uma “dessexualização do próprio sexo” naquilo que ele teria de
desestabilizador, através de sua “pasteurização como sex, por assim
dizer, como uma variante do esporte”379. Tal dessexualização seria
solidária do advento de um discurso não-repressivo, mas integrador de conflitos
através da eliminação da força disruptiva das pulsões parciais e de suas
estruturas múltiplas e sem telos.380 Como se a sexualidade em circulação
na retórica do consumo e na indústria cultural, constituída por uma articulação
entre discurso médico e imaginário cultural, se transformasse em um mecanismo
de defesa contra o próprio sexual.381 Dessa forma, as bases
motivacionais da recusa e da revolta poderão ser solapadas através da adaptação
de sujeitos a uma vida mutilada. Mas para entender tal colapso das bases
motivacionais da revolta, há de se perguntar sobre a estrutura pulsional no
interior do capitalismo, o que implicará modificações substanciais no que
devemos entender por crítica.
Tendo tal diagnóstico em mente; podemos
entender por que, para Adorno, as dinâmicas de resistência deverão se enraizar
não mais na esfera da classe social e da emergência possível de sua consciência,
mas na esfera do sujeito e de seu inconsciente. Serão seus sofrimentos, seu
mal-estar, seus sintomas que testemunharão a natureza violenta de um processo
de gestão social cuja regulação passará pela procura em desconstituir toda
experiência possível da diferença. Serão seus sofrimentos, seu mal-estar, seus
sintomas que sustentarão a possibilidade de uma vida correta radicalmente fora
dos modos de ordenamento social vigentes a qual se baseia na recusa aos modos
de expropriação pulsional no interior das sociedades capitalistas. Isso
colocará problemas a respeito das formas políticas de organização do conflito
social, os quais Adorno não se verá obrigado a responder (ou que, se quisermos,
precisarão ficar temporariamente sem resposta para que possam ser efetivamente
respondidos).
De toda forma, há de se insistir que a
psicanálise demonstra para Adorno como, em um horizonte de gestão social de
máxima integração, a verdade tem necessariamente a forma de sintoma. Cabe à
crítica não apenas saber ouvir 0 conteúdo social do que se expressa nos
sujeitos sob a forma de sintoma. Cabe a ela compreender que é apenas lá onde
encontramos a dimensão do sintoma que haverá sujeito. Poderíamos mesmo dizer
que a afirmação lacaniana de que “não há sujeito sem sintoma” ganha aqui uma conotação
política inesperada. Pois há de se lembrar que:
O sujeito, em que a psicologia preponderou como algo subtraído à racionalidade
social, valeu desde sempre como anomalia, como um excêntrico; na época totalitária,
seus lugares são o campo de trabalho ou de concentração, onde ele é aprontado”,
bem integrado.383
Mas notemos que, longe de uma estratégia que
reconhece o colapso da ação política coletiva e que prega o retorno ao cultivo
da dimensão individual, a posição de Adorno revela a necessidade de um
aprofundamento do campo político, da ampliação de suas ações através da
compreensão clara dos mecanismos psíquicos de sujeição e integração social como
condição para a reorientação da práxis. Assim, não apenas a cultura será
claramente elevada a um campo de combate político tendo em vista a possibilidade
de produção social da diferença. Também a vida psíquica será um espaço de combate,
e não seria um erro se perguntar pela função clínica da arte em Adorno, o que
poderia explicar por que, por exemplo, vários conceitos clínicos são
mobilizados na crítica musical adorniana, como no caso de Stravinsky (hebefrenia,
dissociação psicótica), de Berg (pulsão de morte) ou mesmo em Beckett
(despersonalização), entre tantos outros. Pois a arte terá uma força clínica
para Adorno. Ela denunciará uma sintomatologia, assim como constituirá modos de
subjetivação que darão a sintomas, inibições e angústias outros destinos que
não o sofrimento.
Por outro lado, é evidente como, através de
sua discussão com a psicanálise, Adorno espera recuperar um elemento
fundamental para a ação política transformadora, o qual teria sido
negligenciado por Freud, a saber, o potencial de espontaneidade. Seu
embotamento é a matriz de todo empobrecimento da imaginação política.”
376 Desenvolvi este ponto no quarto capítulo
de O circuito dos afetos.
377 Marcuse desenvolve o tópico da
expropriação pulsional através da dessublimação repressiva pensada como “liberalização
controlada que realça a satisfação obtida com aquilo que a sociedade oferece”,
pois, “com a integração da esfera da sexualidade ao campo dos negócios e dos
divertimentos, a própria repressão é recalcada” (MARCUSE. Herbert, Cultura e
sociedade II. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 106).
378 Ver ainda a presença massiva de conceitos
psicanalíticos em estudos de mídia como: ADORNO, Theodor. As estrelas descem
à Terra. São Paulo: Unesp, 2006.
379 ADORNO, Escritos sobre psicologia
social e psicanálise, p, 202.
380 Dessexualização da sexualidade deveria
ser compreendida psicodinamicamente como a forma do sexo genital, em que este mesmo
se transforma em poder de impor tabus e inibe as pulsões parciais ou as elimina”
(Idem, p. 205).
381 Para uma aproximação sugestiva entre o
tópos frankfurtiano da dessublimação repressiva e a crítica da biopolítica em Michel
Foucault, ver sobretudo: CARNEIRO, Sílvio. Poder sobre a vida: Herbert
Marcuse e a biopolítica. São Paulo: USP, 2015. (Tese)
382 Isso leva Adorno a falar, por exemplo, no
conteúdo de verdade das neuroses: “Todo conteúdo de verdade das neuroses está
no fato de elas demonstrarem ao Eu sua não-liberdade com base no que é estranho
ao Eu, com base no sentimento do ‘mas este não sou eu’; e isso lá onde se
interrompe seu domínio sobre a natureza interior” (ADORNO, Dialética negativa,
p. 188). Pois a neurose é a expressão distorcida da experiência social da não-liberdade
que, mesmo expulsa da esfera da consciência retorna sob a forma de sintoma.
383 ADORNO, Escritos sobre psicologia
social e psicanálise, p. 87.
“Notemos ainda um ponto importante. Através
da relação transindividual que passa por dimensões corporais e pulsionais,
vemos uma dialética entre natureza e história na qual a natureza aparece, mais
uma vez, como a história esquecida de si mesma, a qual só pode se encontrar
a si mesma à condição de negar a violência que a própria história até agora
representou. Ou seja, ela só pode se encontrar à condição de obrigar a história
a ser o que ela ainda não é e o que ela até agora nunca foi. É nesse
sentido que a psicanálise poderá trazer a Adorno as coordenadas de uma vida
correta que ainda não existiu, que ainda não acedeu à existência reconhecida
enquanto tal.”
“O famoso aforisma de Adorno: “A filosofia
que um dia pareceu ultrapassada mantém-se viva porque se perdeu o instante de
sua realização” é, à sua maneira, fiel à indissolubilidade entre dialética e
revolução. As experiências revolucionárias do século XX, que apareciam como o
instante da realização da filosofia e sua ultrapassagem enquanto “mera” filosofia,
perderam-se, passaram no seu oposto. Se a filosofia se mantém viva, é como o
pensamento que conserva o impulso de sua realização e de sua força de
transformação apesar do seu fracasso. A filosofia aparece como pensamento que
não pensa apenas seu fracasso, embora não recuse deter-se diante dessa tarefa,
mas que principalmente medita sobre a astúcia para a realização dos processos
de revolução social.
Marx podia, em 1846, clamar o momento de
ultrapassar as interpretações do mundo porque sentia a iminência de uma experiência
revolucionária, tal como ocorrerá em 1848. Adorno afirma, em 1966, que a
filosofia estava viva porque não via iminência alguma, enquanto a dialética não
se mostrasse, de fato “à altura do que é heterogêneo”428 e não
penetrasse em novos sujeitos políticos emergentes. Pois essa modificação no
modo de pensar seria condição para a emergência de novos sujeitos na práxis. O
pensamento dialético pede a emergência de novos sujeitos, da mesma forma que
Hegel compreendia que o desenvolvimento da dialética modificaria a consciência
até o ponto em que ela não seria mais consciência, até o ponto em que o
pensamento não seria mais pensamento representacional, mas Espírito que unifica
pensar e ser. Há em Hegel uma emergência do Espírito como sujeito dos processos
históricos. Um processo de emergência pensado como revelação retroativa de uma
totalidade verdadeira que reinscreve os fatos do passado modificando seu
sentido, além de projetar uma força performativa recomposta. O Espírito sempre
terá sido, provocando, através de sua emergência, uma revolução no presente, no
passado e no futuro.
Como vimos, tal dinâmica está também presente
em Marx, agora através de uma guinada em direção à nomeação de um sujeito
concreto dotado de força de transformação estrutural da sociedade, a saber, o
proletariado. A dialética se realiza através da emergência de um sujeito que
age de maneira dialética. Pois a emergência do proletariado não é apenas a constituição
de atores políticos que exigirão novas formas de redistribuição de bens e
riquezas. Ela é a produção potencial de outro modo de existência, de outra
forma de vida capaz de fazer a negatividade passar ao ser, abolindo as
determinações por propriedade e posse, capaz de eliminar o primado da
representação, capaz de desarticular o primado da identidade. Como defendi
anteriormente, o proletariado é, acima de tudo, um modo de pensar e agir por
despossessão, não mais um modo de pensar e agir por determinação de
propriedade. Faz parte da dialética fazer da negatividade dessa despossessão um
motor de transformações, já que ela é a expressão de um processo de perda de
adesão aos modos de reprodução social que sustentam o capitalismo.
Quando Marx insiste na alienação do trabalho,
ele não pensa apenas na alienação da posse do objeto trabalhado, mas no
trabalho como modelo social e estrutural de alienação.429 Sua
superação exige a negação de tudo o que sustenta a sociedade do trabalho, a
saber, a família, o Estado, a religião, a moral e o conjunto dos dispositivos
disciplinares que definem a estrutura de identidades sociais. Essa negação leva
à ação revolucionária, e não à resignação depressiva ou à mera exigência por
redistribuição justa porque ela dialética. Ela é negação dos valores que
sustentam a sociedade burguesa (a liberdade como falsa liberdade, a autonomia como
heteronomia, a emancipação como disciplina, a justiça como injustiça) em nome
da realização efetiva desses mesmos valores, agora fora do horizonte de
significação definido pela hegemonia da burguesia.
Insistamos nesse ponto, que pode nos fornecer
uma orientação para a reflexão a respeito das relações entre filosofia e
práxis. Pois talvez sejamos obrigados a dizer que uma filosofia, se não quiser
se reduzir à estranha tarefa de um horizonte normativo e valorativo prévio à
práxis, não pode ser uma descrição de modos de organização e de estratégia, o
que apenas uma experiência efetiva em condições práticas locais pode fornecer.
Ela será uma teoria da emergência, das transformações possíveis que produzem a
emergência de sujeitos que responderão em sua atuação, pelas condições e
desafios concretos da práxis em sua multiplicidade de situações. Ela pode
pensar organização, mas organização para emergência. Digamos, pois, que tal
exigência não desaparece em Adorno; ela se complexifica devido à interpretação de
uma série de coordenadas histórico-sociais ligadas ao colapso do proletariado
como classe sociológica e à dificuldade de constituição de dinâmicas de
consciência de classe devido ao advento da indústria cultural. Notemos que o
fato de a ação revolucionária estar temporariamente bloqueada, segundo Adorno,
não significa que ela não teria mais significado algum no interior das
dinâmicas do político, nem que a luta pela efetivação de suas condições seria
objetivo maior. Reconhecer o bloqueio de um processo não significa abandonar a
defesa de sua necessidade. Significa apenas complexificar seus esquemas de
efetivação. Mas uma das condições centrais para a práxis revolucionária, ao menos
segundo Adorno, é a incapacidade de refletir sobre os “traços maníacos e coercitivos”
da própria práxis”.430”
428 ADORNO, Dialética
negativa, p. 12.
429 Ponto bem desenvolvido por: POSTONE,
Moishe. Tempo, trabalho e dominação social. São Paulo: Boitempo, 2014.
430 ADORNO, Palavras e sinais: modelos
críticos 2, p. 206.