Editora: Nova Fronteira / Saraiva de bolso
ISBN: 978-85-2092-493-8
Tradução: Rita Braga
Opinião: ★★★☆☆
Páginas: 240
Sinopse: A náusea,
romance de 1938, marcado pelo existencialismo, é considerado, pelo autor e pela
crítica, o mais perfeito livro de Sartre. Antoine Roquentin é símbolo de uma geração
que descobre a ausência de sentido da vida e tem de lidar com todos os desdobramentos
que essa experiência pode suscitar. As reflexões do personagem principal, narradas
em forma de diário, versam sobre o significado da existência e atingem seu ponto
máximo quando o sentimento de vazio começa a gerar náusea em Roquentin.
“Esses jovens me maravilham: bebendo seu café,
contam histórias inteligíveis e verossímeis. Se lhes perguntamos o que fizeram ontem,
não se perturbam: informam-nos em duas palavras. No lugar deles, eu gaguejaria.
É verdade que faz já muito tempo que ninguém se preocupa com o que faço. Quando
se vive sozinho, já nem mesmo se sabe o que é narrar: a verossimilhança desaparece
junto com os amigos. Também os acontecimentos deixamos correr; vemos surgir bruscamente
pessoas que falam e que se vão, mergulhamos em histórias sem pé nem cabeça: seríamos
testemunhas execráveis.”
“Tínhamos um medo horrível dele, porque sentíamos
que era um homem sozinho.”
“Reli o que escrevi no café Mably e senti vergonha:
não quero segredos, nem estados de alma, nem coisas indizíveis; não sou nem virgem
nem padre para brincar de vida interior.”
“Em 1787, num albergue perto de Moulins, estava
à morte um velho, amigo de Diderot, formado pelos filósofos. Os padres das redondezas
estavam extenuados: tinham tentado tudo inutilmente; o homenzinho se recusava a
receber os últimos sacramentos, era panteísta. O sr. de Rollebon, que passava por
ali e não acreditava em nada, apostou com o pároco de Moulins que, em menos de duas
horas, converteria o doente aos sentimentos cristãos. O pároco aceitou a aposta
e perdeu: entregue a ele três da manhã, o doente se confessou às cinco e morreu
às sete. ‘É tão forte assim na arte da argumentação?’, perguntou o pároco. ‘É melhor
do que os nossos’. O sr. de Rollebon respondeu: ‘Não argumentei: fiz com que sentisse
medo do inferno.’”
“Não tive aventuras. Aconteceram-me histórias,
fatos, incidentes, tudo o que quiser. Mas não aventuras. Não é uma questão de palavras;
começo a entender. Há algo que eu prezava mais do que todo o resto, sem perceber
muito bem. Não era o amor, Deus meu, nem a glória, nem a riqueza. Era… Enfim eu
imaginara que em determinados momentos minha vida podia assumir uma qualidade rara
e preciosa. Não eram necessárias circunstâncias extraordinárias: tudo o que eu pedia
era um pouco do rigor. Minha vida atual nada tem de muito brilhante: mas de quando
em quando, por exemplo quando tocavam música nos cafés, eu evocava o passado e me
dizia: em outras épocas, em Londres, em Meknés, em Tóquio, vivi momentos admiráveis,
tive aventuras. É isso que me tiram agora. Acabo de descobrir bruscamente, sem razão
aparente, que menti a mim mesmo durante dez anos. As aventuras estão nos livros.
E, naturalmente, tudo o que se conta nos livros pode acontecer realmente, mas não
da mesma maneira. Era essa forma de acontecer que era tão importante para mim, que
eu prezava tanto.”
“Os médicos são sempre os que menos se tratam.”
“Como gostaria de lhe dizer que o enganam, que
ele faz o jogo dos importantes. Profissionais da experiência? Arrastaram suas vidas
num torpor, meio adormecidos, se casaram precipitadamente, por impaciência, e fizeram
filhos ao acaso. Encontraram os outros homens nos cafés, nos casamentos, nos enterros.
De quando em quando, apanhados num rodamoinho, se debateram sem compreender o que
lhes acontecia. Tudo que ocorreu à sua volta começou e terminou fora de sua vista;
longas formas obscuras, acontecimentos que vinham de longe roçaram-nos rapidamente
e, quando eles quiseram olhar, tudo já terminara. E depois, por volta dos quarenta
anos, batizaram suas pequenas obstinações e alguns provérbios com o nome de experiência,
começam a se fazer de distribuidores automáticos: dois níqueis na fenda da esquerda
e eis que saem anedotas embrulhadas em papel prateado; dois níqueis na fenda da
direita e recebem-se preciosos conselhos que grudam nos dentes como caramelos pegajosos.”
“Não era um avô, nem um pai, nem sequer um marido.
Não votava; o mais que fazia era pagar alguns impostos: não podia gabar-me de me
assistirem os direitos do contribuinte, nem os do eleitor, nem sequer o humilde
direito à honorabilidade que vinte anos de obediência conferem ao empregado. A minha
existência começava a espantar-me seriamente. Não seria eu uma simples aparência?”
“Se eu pelo menos pudesse parar de pensar, já
seria melhor.”
“Dentro de quatro dias reverei Anny: no momento
essa é a minha única razão de viver. E depois? Quando Anny me tiver deixado? Sei
muito bem o que espero sorrateiramente: espero que ela nunca mais me deixe. No entanto
deveria saber que Anny jamais aceitará envelhecer diante de mim. Sinto-me fraco
e só, preciso dela. Teria gostado de revê-la em pleno vigor: Anny não tem piedade
dos destroços.”
“– Meus amigos são todos os homens. Quando vou
para o escritório pela manhã, há diante de mim, atrás de mim, outros homens que
estão indo para o trabalho. Vejo-os; se me atrevesse, lhes sorriria, penso que sou
socialista, que todos eles são a finalidade da minha vida, de meus esforços, e que
ainda não sabem disso. É uma festa para mim, senhor.
Interroga-me com os olhos: aprovo, abaixando a
cabeça, mas sinto que está um pouco decepcionado, que desejaria mais entusiasmo.
Que posso fazer? É culpa minha se em tudo o que ele diz reconheço citações, ideias
alheias? Se vejo reaparecerem, enquanto fala, todos os humanistas que conheci? E
conheci tantos! O humanista radical é particularmente amigo dos funcionários. O
humanista dito “de esquerda” tem como principal preocupação conservar os valores
humanos; não adere a nenhum partido, pois não quer trair o humano, mas suas simpatias
se voltam para os humildes; é aos humildes que dedica sua maravilhosa cultura clássica.
Geralmente é um viúvo de belos olhos sempre úmidos de lágrimas; chora nos aniversários.
Gosta também dos gatos, cachorros, de todos os mamíferos superiores. O escritor
comunista gosta dos homens, desde o segundo plano quinquenal: castiga porque ama.
Pudico, como todos os fortes, sabe ocultar seus sentimentos, mas sabe também, através
de um olhar, de uma inflexão de voz, fazer pressentir, por trás das palavras rudes
de justiceiro, sua paixão agridoce por seus irmãos. O humanista católico, o retardatário,
o benjamim, fala dos homens com ar embevecido. Que belo conto de fadas, diz ele,
é a mais humilde das vidas, como a de um estivador londrino ou a de uma operária
que pesponta botas! Escolheu o humanismo dos anjos; escreve, para edificação dos
anjos, longos romances tristes e belos, que frequentemente recebem o prêmio Fémina.
Esses são os grandes papéis principais. Mas há
outros, enorme quantidade de outros: o filósofo humanista que vela por seus irmãos
como um irmão mais velho e que tem o senso de suas responsabilidades; o humanista
que ama os homens tais como são; o que os ama tais como deveriam ser; o que quer
salvá-los com sua concordância e o que os salvará, quer queiram quer não, o que
deseja criar novos mitos e o que se satisfaz com os antigos; o que ama no homem
sua morte; o que ama no homem sua vida; o humanista alegre, que tem sempre uma coisa
engraçada para dizer, o humanista sombrio que encontramos sobretudo nos velórios.
Todos eles se odeiam entre si: como indivíduos naturalmente – não como homens. (...)
Em suma, ele me pede pouco: simplesmente que aceite
um rótulo. Mas isso é uma armadilha: se consinto, o Autodidata triunfa, sou imediatamente
contornado, recapturado, ultrapassado, porque o humanismo retoma e funde juntas
todas as atitudes humanas. Se o enfrentamos, entramos em seu jogo; ele vive de seus
adversários. Há uma raça de pessoas teimosas e limitadas, de desonestos, que perdem
sempre contra ele: todas as violências, seus piores excessos, são digeridos por
ele, transformados numa linfa branca e espumosa. Digeriu o anti-intelectualismo,
o maniqueísmo, o misticismo, o pessimismo, o anarquismo, o egotismo; tudo isso já
não passa de etapas, de pensamentos incompletos que só encontram sua justificação
nele. Também a misantropia tem seu lugar nesse concerto: ela é apenas uma dissonância
necessária à harmonia do conjunto. O misantropo é homem: portanto, em certa medida
é preciso que o humanista seja misantropo. Mas é um misantropo científico, que soube
dosar seu ódio, que só começou a odiar os homens para poder amá-los melhor depois.
(...)
– É como o velho atrás do senhor, bebendo água
de Vichy. Suponho que o que ama nele é o Homem Maduro; o Homem Maduro que caminha
corajosamente para o seu declínio e se veste com esmero porque não quer se abandonar?
– Exatamente – diz em tom de desabafo.
– E não vê que é um salafrário?
Ele ri, me acha estouvado, lança um olhar rápido
para o belo rosto emoldurado de cabelos brancos:
– Mas, senhor, admitindo que ele pareça o que
o senhor diz, como pode julgar um homem por sua fisionomia? Um rosto em repouso
não exprime nada.
Cegos humanistas! Aquele rosto é tão eloquente,
tão claro – mas nunca suas almas sensíveis e abstratas se deixam tocar pelo sentido
de um rosto.
– Como pode – diz o Autodidata – limitar
um homem, dizer que é isso ou aquilo? Quem pode esgotar um homem? Quem pode reconhecer
os recursos de um homem?
Esgotar um homem! De passagem, cumprimento o humanismo
católico do qual, sem sabê-lo, o Autodidata tirou essa frase.
– Sei – digo-lhe –, sei que todos os homens são
admiráveis. O senhor é admirável. Eu sou admirável. Enquanto criaturas de Deus,
naturalmente.
Ele me olha sem compreender, depois com um leve
sorrido:
– Certamente está brincando, senhor, mas é verdade
que todos os homens têm direito à nossa admiração. É difícil, senhor, muito difícil
ser um homem. (...)
– Desculpe – digo-lhe –, mas então não estou muito
certo de ser um homem: nunca tinha achado isso muito difícil. Parecia-me que bastava
se deixar levar.
O Autodidata ri francamente, mas seus olhos permanecem
malignos.
– É muito modesto, senhor. Para suportar sua condição,
a condição humana, precisa de muita coragem, como todo mundo. O próximo instante
pode ser o de sua morte, o senhor sabe disso e consegue sorrir: não é admirável?
Na mais insignificante de suas ações – acrescenta com acrimônia – há uma imensidade
de heroísmo.
Contemplo o Autodidata com uma ponta de remorso:
ele passou a semana inteira antegozando esse almoço, no qual poderia comunicar a
outro homem seu amor pelos homens. É tão raro que tenha ocasião de falar! E vejam
só: estraguei seu prazer. No fundo, é tão só quanto eu; ninguém se preocupa com
ele. Apenas ele não percebe sua solidão.”
“Sinto vontade de ir embora, de ir a algum lugar
onde pudesse estar realmente em meu lugar, onde me encaixasse... Mas meu
lugar não é em parte alguma; eu estou sobrando.”
“Subitamente faz aparecer em suas faces o soberbo
rosto de Medusa que eu amava tanto, totalmente intumescido de ódio, retorcido, venenoso.
Anny não muda nada de expressão; muda de rosto; como os atores antigos mudavam de
máscara: de repente. E cada uma dessas máscaras se destina a criar a atmosfera,
a dar o tom do que se seguirá. Surge e se mantém, sem se modificar enquanto ela
fala. Depois cai, se desliga dela.
Ela me fixa sem parecer me ver. Vai falar. Espero
um discurso trágico, alçado à dignidade de sua máscara, um canto fúnebre.
Ela diz apenas uma frase:
– Sobrevivo a mim mesma.
O tom não corresponde absolutamente ao rosto.
Este não é trágico, é... horrível: exprime um desespero seco, sem lágrimas, sem
piedade. Sim, há nela algo de irremediavelmente dessecado.
A máscara cai, ela sorri.
– Absolutamente não estou triste. Muitas vezes
isso me espantou, mas eu estava errada: por que ficaria triste? Antigamente era
capaz de paixões de uma grande beleza. Odiei apaixonadamente minha mãe. Aliás, a
você – diz num desafio – amei apaixonadamente.
Aguarda uma réplica. Não digo nada.
– Tudo isso terminou, é claro.
– Como pode saber?
– Eu sei. Sei que nunca mais encontrarei nada
nem ninguém que me inspire uma paixão. Você sabe, não é tarefa fácil amar alguém.
É preciso ter uma energia, uma generosidade, uma cegueira... Há até um momento,
bem no início, em que é preciso saltar por cima de um precipício: se refletimos,
não o fazemos. Sei que nunca mais saltarei.
– Por quê?
Ela me lança um olhar irônico e não responde.”
“Como me sinto longe deles, do alto dessa colina.
Parece-me que pertenço a uma outra espécie. Eles estão saindo dos escritórios, depois
de seu dia de trabalho, olham para as casas e para as praças com ar satisfeito,
pensam que essa é a sua cidade, uma “bela urbe burguesa”. Não têm medo, sentem-se
em casa. (...) Eles são sossegados, um pouco taciturnos, pensam no Amanhã, isto
é, simplesmente um novo hoje; as cidades dispõem apenas de um único dia que retorna
igualzinho todas as manhãs. Só o enfeitam um pouco aos domingos. Que imbecis! Repugna-me
pensar que vou rever seus rostos espessos e tranquilos. Eles legislam, escrevem
romances populistas, casam-se, cometem a extrema tolice de fazer filhos. No entanto
a grande natureza vaga penetrou em sua cidade, infiltrou-se por todo lado, em suas
casas, em seus escritórios, neles próprios. Não se mexe, mantém-se quieta, e eles
estão bem dentro dela, respiram-na e não a veem, imaginam que ela está lá fora,
a vinte léguas da cidade. Mas eu vejo essa natureza, vejo-a... Sei
que sua submissão é preguiça, que ela não tem leis: o que acreditam ser sua constância...
Ela tem apenas hábitos e pode mudá-los amanhã.”

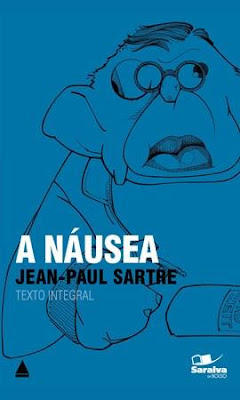
Nenhum comentário:
Postar um comentário