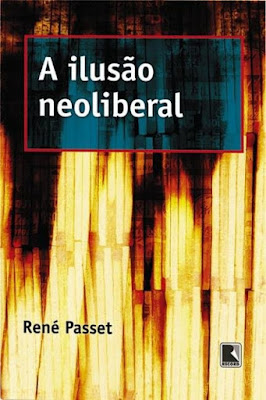Editora: Record
ISBN: 978-85-0106-107-2
Tradução: Clóvis Marques
Opinião: ★★★★☆
Páginas: 370
Sinopse: Ver Parte I
“Uma
primeira lição da destruição criadora é que não devemos confundir a
durabilidade das coisas com a das funções. O que precisa ser preservado são
as funções. Só o que evolui pode manter-se: ao nível do corpo, a renovação das
células garante a preservação das funções vitais. Em última análise, a própria
morte representa um truque da vida, pois assegura o movimento de
rejuvenescimento permanente graças ao qual esta pode manter-se, conservando seu
dinamismo. Pretender estabilizar as coisas em todos os níveis – do planeta
durável a meu bairro e a minha casa duráveis – é fazer com que nada o seja.
Congelar tudo num mundo que se movimenta permanentemente é a melhor maneira de
fazer com que tudo soçobre. É pela transformação das coisas que podemos
assegurar a perenidade das funções.
Uma segunda lição da destruição criadora reside numa exigência de
memória. Se só o que muda pode ser preservado,
devemos acrescentar que só o que comporta um mínimo de invariantes pode mudar.
Essas invariantes, transmitidas através do tempo, constituem a memória das
coisas, ou seja, sua identidade. Na sua ausência, não é de mudança dos sistemas
que devemos falar, mas de seu desmoronamento e de seu desaparecimento. A
cidade, por exemplo, está enraizada no tempo, e as marcas do tempo escrevem sua
história construindo algo que não devemos hesitar em chamar – pois se trata de
uma estrutura viva – de seu caráter e sua personalidade. Está aí toda a
diferença entre a verdadeira cidade humana e a fria acumulação de casas
habitáveis. Não é possível entender o presente sem fazer reviver o passado. É
pela memória que as gerações de ontem e as de hoje continuam a formar uma mesma
comunidade. Harmonizar a mudança e a permanência vem a ser toda a arte de uma
política de desenvolvimento durável.”
“A globalização, como fato concreto, não pode
ser questionada, mas sim a política de desregulamentação e liberalização a toda
prova aplicada a partir dos anos sob o impulso da dupla Reagan-Thatcher.
Não se trata de contestar a existência do
mercado, instrumento insubstituível de criatividade individual e espaço de
múltiplos centros de decisão cuja pluralidade condiciona a capacidade de
adaptação e a estabilidade dos sistemas, mas de pôr fim ao reinado da economia
mercantil sobre o conjunto da sociedade; no próprio ideário dos grandes autores
liberais, nenhum mercado pode existir sem um enquadramento institucional e
regulamentar – um direito dos contratos, por exemplo; a questão diz respeito à
natureza do enquadramento jurídico que preserva as virtudes do mercado ao mesmo
tempo em que reprime seus defeitos.
O liberalismo de que se paramentam os
defensores do sistema não tem muito a ver no caso; ele camufla uma tentativa de
apropriação da renda produzida pelo conjunto da nação.
Pareceu-nos que o nó górdio de nossos
problemas reside na ascendência de uma finança que impõe sua lógica às empresas
e aos Estados, deslocando o poder de decisão da esfera política para a dos
grandes interesses privados mundiais e invertendo a lógica social a ponto de
fazer dela surgir exatamente o inverso do que se poderia esperar.
Sob este ângulo, o problema é, portanto,
triplo: trata-se de controlar os abusos da finança, reconquistar em proveito da
esfera pública – vale dizer, dos cidadãos – o poder confiscado por aqueles que
o próprio CNUCED chama de “novos senhores do mundo” e explorar da melhor
maneira possível a dimensão positiva do movimento de destruição criadora que
conduz as economias.”
“O que está em causa é a especulação sob
todas as suas formas, a corrida produtivista desencadeada pela esfera
financeira e estimulada pelas modalidades de taxação pública, a lavagem do
dinheiro sujo que não seria possível sem a cumplicidade da esfera econômica
“limpa”. Não existe portanto uma panaceia neste terreno: o controle da finança
não é apenas um problema de finanças, mas também de sociedade.
Para controlar os abusos especulativos, a taxa Tobin é uma medida
emblemática, mas parcial. Nem toda especulação, como
vimos, é perversa, mas logo desemboca em puros “jogos de cassino”, alimentando
um exército de parasitas que nada produzem, nada criam e permitem apenas o
acúmulo de direitos à partilha do PIB em favor dos detentores de capitais e em
detrimento dos outros atores da economia.
Contra tais abusos, o mínimo que se pode
exigir dos defensores do sistema seria que se mostrassem fiéis a si mesmos,
aplicando os princípios elementares da economia liberal: transparência,
enrijecimento das regras de prudência (como a obrigação de depositar uma parte
importante dos valores empenhados numa operação especulativa26),
reforço das taxas bancárias (taxa Cooke27), desenvolvimento da avaliação
de riscos (modelos do tipo Morgan28), reforço da vigilância dos
mercados financeiros e bancários, acordos e cooperação internacionais, como na
época dos acordos do Plazza (1985) e do Louvre (1987) e tal como se aplica
empiricamente ao nível do G7 ou do G8. Quem deixaria de apoiar tais medidas?...
Talvez unicamente alguns eminentes defensores da economia de mercado, na qual,
no entanto, elas se inspiram. Mas tais medidas não seriam suficientes.
A “taxa Tobin”29 tem como objetivo contrariar o jogo especulativo
de curta duração sem travar os movimentos da economia real. O princípio é conhecido. Trata-se da cobrança de uma taxa extremamente
modesta
– da ordem de 0,1 a 0,5% (1 a 5 por mil) – a
ser efetuada sobre toda transação envolvendo
divisas. Seu objetivo seria reduzir a volatilidade das taxas de câmbio,
contrariando certas formas de especulação, sem afetar os investimentos ou as
trocas reais. É preciso lembrar que os “jogos de cassino” antecipam
diferenciais de cotações de alguns milésimos de ponto e envolvem massas de
capitais consideráveis trocadas várias vezes em prazos muito exíguos: 80%
dessas trocas são idas-e-voltas essencialmente especulativas, de duração
inferior a uma semana e às vezes a vinte e quatro horas. Tomando-se como base
240 dias úteis por ano, uma taxa de 0,1% cobrada toda vez que for feita uma
dessas transações representa um índice anual de 48% em caso de ida-e-volta
diária, de 10% tratando-se de movimentação semanal e de 2,4% se for mensal.
Em compensação, uma transação comercial
pagará a taxa uma única vez. No caso dos capitais, o encargo anual representará
em caso de aplicação por um ano e cairá em função da duração até 0,02% em caso
de aplicação por cinco anos. Como as taxas variam em função inversa da duração
das operações, as transações comerciais internacionais ou os investimentos
produtivos não seriam afetados. (...)
Como escreve Bernard Cassen, a adoção de uma
taxa desta natureza “sancionaria o retorno do político. [...] O fato de os
dirigentes eleitos e os governos tratarem de taxar a especulação sobre as
moedas significaria que voltam a se firmar e julgar ter sua palavra a dar na
esfera financeira. Um perigoso precedente. [...] É efetivamente seu caráter
emblemático que deixa em transe os liberais”.”
26: “A gigantesca especulação que
constatamos”, afirma Maurice Allais, “só é possível porque se pode comprar sem
pagar e vender sem deter”, in “La mondialisation, le chômage...”, art. cit.
27: A taxa Cooke obriga os estabelecimentos
bancários a respeitar uma certa proporção entre seus fundos próprios e seus
compromissos.
28: Trata-se de um modelo de avaliação de
riscos que J. -P Morgan pôs gratuitamente à disposição de seus pares, para
sensibilizá-los para os riscos reais dos produtos derivados.
29: François Chesnais, Tobin or not Tobin, L’Esprit frappeur, Paris,
1999.
“Temos então o acionista exercendo o poder
supremo. Não se trata, naturalmente, do pequeno poupador que ao fim de toda uma
vida de trabalho extrai alguns rendimentos do capital modesto que conseguiu
juntar. No momento em que a empresa assume mais que nunca uma dimensão social,
tanto pela natureza dos fatores que determinam seu desempenho quanto pelas
consequências de suas atividades, é precisamente seu componente mais acanhado,
mais obtuso, mais distante das coisas da vida e mais ignorante do que significa
o ato de produção que assume o seu controle. Os diretores-presidentes mais
pomposos são incumbidos de prestar contas aos representantes dos fundos de
pensão, explicar, justificar sua estratégia... E se não são capazes de
convencer, são dispensados sem contemplação, como ocorreu com o presidente da
IBM em 1993, o da Kodak em 1995, o da Compaq em 1999 e muitos outros... Não é
preciso muito mais para entender a consideração devida pelo poder do dinheiro
àqueles de que se serve. Por experiência, o empresário tradicional – que
tampouco deve ser idealizado – sabia que para produzir é necessário combinar
realidades diversas, materiais, humanas, financeiras... Tinha isto em comum com
os trabalhadores que empregava. Pois hoje ele se apaga diante dos homens da
contabilidade, que só conhecem a realidade dos números.”
“O espaço mundial, entendido como um simples
espaço de livre-troca, revelou-se o lugar de todos os dumpings e todas as dominações. A liberdade das trocas só tem
sentido entre nações com nível de desenvolvimento econômico e social
comparável. Caso contrário, permite as distorções de concorrência ligadas à
não-integração dos custos sociais ou ambientais aos preços praticados pelos
menos desenvolvidos (dumping social e
dumping ecológico), enquanto se
exercem em sentido inverso os efeitos de dominação e os “controles de
estruturas” dos poderosos sobre os fracos, evidenciados nos anos do pós-guerra
pelo economista francês François Perroux.”
“Todo atraso tecnológico condena à
dependência.”
“Seria necessário atacar os problemas “no
coração”. Enquanto uma lógica de eficácia monetária e rendimento financeiro a
curto prazo continuar a impor sua lei às sociedades, enquanto a cooperação
entre as nações, o controle dos desvios mercantis e a organização institucional
do espaço internacional não permitirem o restabelecimento da hierarquia
legítima das finalidades e meios, nada de decisivo poderá sair de qualquer das
acumulações de medidas específicas que costumam ser adotadas. Portanto, é aí
que se encontram as prioridades; mas isto não nos dispensa de atacar
diretamente cada uma das formas do que já definimos como “perversão da
promessa”. Realizar esta promessa significa, portanto:
– restabelecer a caminhada para a
reaproximação dos povos;
– devolver ao progresso técnico seu sentido
de libertação dos homens;
– favorecer o acesso de todos à partilha do
produto comum.
Quanto ao respeito dos organismos vivos, já
deixamos, claro que o consideramos uma prioridade.”
“Entretanto, a ajuda internacional, ainda que
insuficiente, pode dar origem a dívida cujo aumento constante – pelo jogo dos
juros que se somam automaticamente ao capital – cria um círculo vicioso que os
obriga a estar permanentemente galgando o eterno rochedo de Sísifo. Deste ponto
de vista, Eric Toussaint8, presidente do Comitê pela Anulação da
Dívida do Terceiro Mundo (CADTM), chama a atenção para o absurdo da situação
atual, na qual todo ano os países do terceiro mundo reembolsam 200 bilhões de
dólares às instituições internacionais e aos países ricos, recebendo apenas 48
bilhões, no total das ajudas públicas.
Temos uma grande parte de responsabilidade nesta situação. Se as instituições internacionais, os países industrializados e os
bancos privados favoreceram até o fim dos anos 70 uma política de empréstimos a
juros baixos e às vezes negativos, incitando os países do Sul a se endividarem,
foi para estimular as exportações do mundo industrializado. A crise do endividamento
do terceiro mundo a partir de 1982 foi gerada pela alta das taxas de juros
decidida pelo banco federal dos Estados Unidos, assim como pela queda das
rendas de exportação e a suspensão dos empréstimos bancários, como se se
quisesse quebrar a propulsão de seu desenvolvimento industrial.
Somos nós que perpetuamos o problema. Os
“planos de ajuste estrutural” que o FMI, o Banco Mundial, os governos do Norte
(reunidos no Clube de paris) e os bancos privados (Clube de Londres) atrelam a
seus empréstimos traduzem-se na aceleração das privatizações, na redução dos
gastos sociais, na desregulamentação do mercado de trabalho, produzindo
desemprego (23 milhões de empregos sacrificados no Sudeste asiático desde o
início da crise de 1997) e pobreza crescente. Esses países são obrigados a
sacrificar ao serviço e ao pagamento da dívida a formação de um capital
produtivo e de infraestrutura (transportes, energia, educação, saúde...) que
constituem a base essencial de qualquer desenvolvimento. E quando o Banco Mundial
passou a preocupar-se com estruturas, foi, até agora, para obrigar os países em
desenvolvimento a sacrificar suas culturas de produção de víveres em nome das
culturas de exportacão, ou ainda para apoiar projetos de grandes represas (Inga
no antigo Zaire, Narvada na Índia) e vias de comunicação (Transamazônica no
Brasil) que se revelaram catástrofes ecológicas e econômicas.
O pagamento da dívida e dos juros repousa na
exportação de matérias-primas (petróleo, gás, minerais sólidos, borracha,
açúcar...) cujas taxas de troca se degradam (entre 15 e 45% em 1998) e no
recurso a novos empréstimos cujas taxas (10 a 15% no Brasil, no México, na
Argentina, na Tailândia) são muito superiores às cobradas nos países
industrializados (3 a 5%) – exigências da lógica financeira. De tal modo que
entre 1982 e 1998 os países do terceiro mundo pagaram quatro vezes o montante
de sua dívida externa, que no entanto era multiplicada por quatro no mesmo
período. Em 1997, ela chegava a 1,950 trilhões de dólares, excetuados os países
do Leste. Já não é assistência, mas estrangulamento.
A anulação geral desta dívida se impõe,
começando imediatamente pelos 300 bilhões de dólares que correspondem aos
atrasados impossíveis de pagar dos países pobres mais endividados, e o
desenvolvimento de uma política de ajuda pública internacional orientada
particularmente para o financiamento dos investimentos em infraestrutura
econômica e social não imediatamente rentáveis.”
8: Eric Toussaint’ “Briser la spirale
infernale de la dette”, Le Monde diplomatique,
setembro de 1999. Nosso raciocínio a este respeito deve muito a este artigo.
Ver também seu livro La Bourse ou la vie.
La finance contre les peuples – Luc Pire (Bruxelas) – Syllepse (Paris) –
Cétim (Genebra), 1998.
“O mais belo resultado da política neoliberal
foi incontestavelmente a Inglaterra de Margaret Thatcher. (...)
O balanço de dezesseis anos de flexibilidade
conservadora não poderia ser mais eloquente (Thatcher e John Major):
– uma taxa de crescimento anual média de 1,6%
desde 1979, a menor dos sete grandes países industrializados, apesar dos
rendimentos extraídos do petróleo do Mar do Norte;
– o índice de criação de empregos mais lento
de todos os países da União Europeia; os êxitos ostentados depois de 1993
serviram apenas para compensar a perda de 1.600.000 postos provocada entre 1990
e 1993 por esta mesma política, chegando em 1995 a um nível (25.500.000) pouco
superior ao de 1979 (25.000.000);
– uma política favorável aos mais
favorecidos, cuja carga fiscal é aliviada, e dura com os mais destituídos;
empregos pouco qualificados, mal remunerados, multiplicação dos working poor, proteção social
enfraquecida e uma sociedade em decomposição na qual um terço das crianças
vivem em famílias nas quais nenhum adulto tem um emprego; um milhão de pessoas
– entre as quais 800.000 mulheres – ganhando menos de 2,5 libras (23 francos)
por hora em trabalhos frequentemente de tempo parcial; desigualdades que se
agravam, portanto;
– um aparelho produtivo arruinado: um capital
que envelhece, o de idade mais elevada do G7 (doze anos em média, contra sete
nos Estados Unidos e cinco no Japão), assalariados pouco qualificados,
investimentos insuficientes, uma produtividade medíocre, uma aparência de
competitividade mantida apenas através de salários baixos associados a uma
duração do trabalho mais longa que na maioria dos países concorrentes28;
alguns dos maiores orgulhos da indústria – Rover (automóveis), GEC-Plessey
(equipamentos de telecomunicações), ICL (informática) – e dos bancos de
investimentos (Níorgan Grenfeld, SG Warburg, Barings) vendidos a grupos
estrangeiros; apenas sete empresas britânicas entre as quinhentas maiores do
mundo segundo a Fortune.
A flexibilidade traduz, antes de mais nada, a
inversão da relação de forças em proveito dos empregadores, questionando a
sociedade de bem-estar derivada dos “Trinta Gloriosos”, substituindo-a por uma
sociedade de precariedade que será difícil fazer com que aceitemos como modelo.
Ela é exercida sob pressão das remunerações praticadas nos países menos
desenvolvidos, mas também – e talvez sobretudo – sob o efeito da competição
entre países ricos: as empresas japonesas encontram cada vez maior dificuldade
para manter a tradição do emprego vitalício, tendo de enfrentar a concorrência
de suas equivalentes americanas que praticam a flexibilidade do emprego e dos
salários. Em todos os casos, naturalmente, o ajuste é feito para baixo. A
ênfase exclusiva no custo dos recursos humanos tem como efeito reduzir cada um
dos elementos que interferem na partilha do excedente de produtividade – volume
de trabalho, salário, financiamento social – em concorrência com a parte do
capital financeiro. É este, com efeito, como já vimos, o resultado obtido, e é
esta, sem qualquer dúvida, a finalidade inconfessada desta política.”
28: Sobre todos estes pontos, ver Richard
Farnetti, Le Royaume désuni, Syros,
col. “Alternatives économiques”, Paris, 1995.
“A
questão da idade da aposentadoria enquadra-se nesta mesma lógica. Indo
ainda mais longe que as recomendações do relatório Charpin34,
segundo o qual o equilíbrio financeiro do sistema exigiria elevar a duração da
contribuição de 37,5 para 42,5 anos, certos dirigentes patronais – que nunca se
fazem de rogados quando se trata de um “avanço” social – sugerem uma duração de
45 anos; uma aura de pudor é que certamente os impede de ir até o fim de sua
lógica, que consistiria em esperar a data da declaração de óbito do
beneficiário. É invocada a demografia: o fim do baby-boom, conjugado ao aumento
da expectativa de vida, provocaria um grave desequilíbrio na relação dos
aposentados com as “pessoas de idade ativa”, a qual, “numa ótica de viabilidade
financeira, é determinante”; de 1995 a 2040, o peso relativo daqueles sobre
estas se elevaria de 4 a 7 por 10 (ou + 75%); conclusão: “A situação financeira
da maioria dos regimes encontra-se ameaçada [...] só um deslocamento da idade
de fim de atividade” permitirá manter a atual relação de 4/10.
O argumento é rigorosamente idêntico ao que
poderia ser sustentado no imediato pós-guerra, com respeito à tragédia
alimentar que certamente teria ocorrido na França antes do fim do século: ao
passo que em cinquenta anos a população do país passaria de 41 a 58 milhões de
habitantes, as superfícies cultivadas diminuiriam em 20%, dois terços dos
empreendimentos agrícolas desapareceriam e a população ativa agrícola cairia de
7,5 a 1,2 milhão de indivíduos, de modo que cada um deles teria de alimentar
não mais 5,3, mas 48,3 pessoas. Um drama alimentar sem precedentes se abateria
sobre nosso país. O argumento – evidente e límpido – estaria simplesmente
esquecendo de levar em conta a multiplicação por vinte e oito, em um século, da
produtividade horária do trabalhador agrícola.
A mesma omissão basta para aniquilar a
demonstração que nos é impingida sobre a idade de aposentadoria. Se, segundo as
estimativas da própria comissão, a produtividade do trabalho deve aumentar ao
ritmo anual de 1,7% observado há vinte e cinco anos, a produção dos 10 ativos –
permanecendo iguais as demais condições – terá dobrado entre 1995 e 2040, de
modo que os 7 inativos de fim de período representarão, em relação ao ano
inicial, o peso de 3,5 inativos; em vez de aumentar, a carga relativa terá
diminuído 12,5%. Mas há ainda melhor: se este conceito de carga tem algum sentido,
só a população efetivamente ocupada
(e não a população “de idade ativa”) pode ser considerada produtiva, e o fardo
a ser carregado estende-se ao conjunto da população desocupada: aposentados,
naturalmente, mas também crianças, doentes, pessoas no lar. Neste caso, o
aumento relativo de uma categoria da população é necessariamente compensado
pelo recuo relativo de uma ou várias outras categorias; desse modo, o peso
total da população desocupada em relação à população ocupada, passando de 1,63
em 1995 para 1,73 em 2040, aumentará apenas 6%, em vez de 75%. Melhor ainda, e
sempre de acordo com os números do relatório – que não tira qualquer conclusão
a respeito –, esta “carga” diminui até 2010 (- 14%), para voltar ao nível atual
somente em 2030 – trinta anos de segurança! – e alcançar 106% de seu nível
inicial apenas em 2040, o que, levando-se em conta o aumento da produtividade,
situa o total real da carga em 53% de seu peso inicial.35
O único resultado – e certamente a única
motivação – do relatório sobre a idade de aposentadoria seria, portanto,
reduzir o montante das contribuições pagas aos beneficiários, para maior
vantagem dos detentores do capital. Não resta dúvida de que há quem sinta
saudades dessa época bendita e – que não está tão distante assim – em que,
tendo contribuído durante toda a vida, o trabalhador tinha o bom gosto de
desaparecer antes de ter abusado de seu direito de receber uma pensão: “Naquela
época, meu senhor, as pessoas sabiam viver... e sobretudo morrer em tempo
hábil.”
34: Projet
de rapport sur les retraites, elaborado pela comissão presidida por
Jean-Michel Charpin, comissário geral do Planejamento, 25 de março de 1999;
salvo indicação em contrário, as citações que se seguem são extraídas desse
texto.
35: Todos estes números foram extraídos do
relatório ou estabelecidos com base em seus dados.